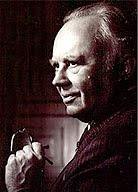Autor: Aldous Huxley
Tradução: Gisela Brigitte Laub
Editora: Globo
Assunto: Romance
Edição: 1ª
Ano: 2001
Páginas: 443
 Sinopse
Sinopse: A Ilha traz a história de um jornalista, Will Faranaby, e seu encontro com uma sociedade baseada na “liberdade”. Tal paraíso fica em Pala, uma ilha situada na Indonésia.
Aldous Huxley fala de uma sociedade idealizada tendo uma ilha fictícia como palco de uma civilização que persegue serenamente a felicidade. Lá a utopia da existência plena é possível.
A Ilha é o mundo criado pelas utopias psicoterapêuticas e orientalistas dos anos 50-60. Huxley captou antecipadamente a loucura por trás de tudo isso, e é precisamente essa antevisão que dá o tema deste romance.
Comentários: Escrito em 1962 é o penúltimo livro publicado por Aldous Huxley. Imagina-se, equivocadamente, que “A Ilha” encaixou como uma luva na atmosfera cultural americana da época, a fase hippie da contracultura, quando jovens de classe média, orientados por gurus como Timothy Leary, Allen Ginsberg, Robert Laing, Carlos Castañeda, Roberto Crumb, Herbert Marcuse (um marxista da Escola de Frankfurt), Jack Kerouac e Alan Watson, questionavam os valores dominantes, como família, religião, moral e a guerra no Vietnã.
A sociedade da ilha de Pala, descrita na obra, foi recebida como uma síntese da sociedade utópica que estes jovens queriam opor à sociedade industrial de consumo que, paradoxalmente, havia tornado o cidadão americano médio rico como nunca. Acontece que, A Ilha, na verdade, é o mais temível inquérito sobre o auto-engano da geração que o aplaudiu. No ambiente de entusiasmo utópico da época, seria impossível que os leitores o compreendessem. Isso teria exigido deles um realismo cruel, que mesmo à distância de várias décadas ainda parece difícil de suportar, tão contaminados das ilusões e mentiras dos anos 60 permanecemos hoje. Daí que, deslizando sobre a superfície da narrativa, quase todos os leitores deixassem escapar os detalhes mais importantes, nos quais se esconde o sentido mesmo da última lição de um sábio.
PREFÁCIO DE OLAVO DE CARVALHO
Os críticos acusaram freqüentemente os personagens de Huxley de
não ser propriamente seres humanos, mas apenas símbolos de idéias.
Contra essa censura posso levantar de imediato três objeções:
1) Mesmo que ela fosse certa, não bastaria para arrasar de vez a
reputação de Huxley como ficcionista, de vez que crítica semelhante já se fez a
Swift e Voltaire.
2) Ela não é propriamente uma censura, mas a definição mesma do
gênero “sátira”, no qual se incluem, de algum modo (já veremos qual), as
principais obras de Huxley. Não é possível satirizar os seres humanos naquilo
que têm de pessoal e autêntico, mas só no que têm de exterior, de típico, de
copiado e de mecânico.
3) Mas as histórias de Huxley escapam mesmo às limitações
intrínsecas do gênero satírico. É verdade que Lenina Crowne ou Bernard Trotsky,
em O Admirável Mundo Novo, assim como Will Farnaby, Robert MacPhail ou o
embaixador Bahu, em A Ilha, não são realmente pessoas de carne e osso: são
encarnações das utopias, sonhos e ilusões da intelectualidade ocidental. Mas se
malgrado essa sua origem puramente intelectual seus destinos nos interessam e
nos comovem como os de gente de verdade, é pelo fato de que, no século XX, o
poder enormemente ampliado da mídia cultural fez com que as idéias passassem a
ter uma influência formadora mais direta e decisiva sobre os corações humanos.
Símbolos, frases-feitas, emoções e trejeitos mentais criados pelos intelectuais
fincaram raízes tão profundas no subconsciente das pessoas, que se tornaram, em
muitos casos, indiscerníveis das reações pessoais autênticas. É olhar e ver:
muitas personalidades em torno de nós são realmente, literalmente, traslados de
modas intelectuais. Esses tipos só são cômicos e artificiais quando vistos do
exterior, e nossa reação perante eles é ambígua: não conseguimos nem
compartilhar de seus sentimentos ao ponto de sofrer por eles, nem
desidentificar-nos deles o bastante para torná-los definitivamente cômicos.
Pois todos nós, uns mais, outros menos, macaqueamos as modas culturais, e este
é um destino inescapável do homem moderno: nem possuímos mais aquele fundo
comum de valores e símbolos que permitia ao camponês da Idade Média ser ele
mesmo justamente porque era igual a todos, nem nos tornamos tão prodigiosamente
individualizados que possamos inventar nossa própria linguagem. A única
autenticidade possível ao homem moderno é um arranjo mais ou menos pessoal de
modelos mais ou menos copiados.
É nessa zona indistinta entre o discurso coletivo e a emoção
autêntica, entre a macaquice intelectual e a vida pessoal efetiva que Huxley
colhe seus personagens. Daí sua maior originalidade como ficcionista – sua
capacidade de fazer o leitor vivenciar o jogo das idéias estereotipadas como se
fosse um drama humano de verdade. Por isso suas obras não podem rotular-se
categoricamente como sátiras, já que participam, a um tempo, da sátira e do
drama: sátira das idéias, drama dos erros e sofrimentos humanos que essas
idéias geraram ao transformar-se em ações. É precisamente essa visão
intermediária entre a sátira e o drama que o habilita a sondar com olhar
profético o futuro que se gera no ventre das idéias. Cada um de seus romances é
como aquele fantasma do poema de Heine que acordava um homem de madrugada e, de
espada em punho, o ameaçava: “Eu sou a ação dos teus pensamentos.”
Muito do que Aldous Huxley escreveu é a dramatização satírica
das idéias que se tornaram vida pessoal e tragédia pessoal entre os
intelectuais midiáticos, aqueles seres meio cultos, meio ignorantes, que
desfrutam do privilégio maior da mediocridade -- falar a linguagem média -- e
que por isto dão o tom dos debates públicos, encarnando a personalidade das
épocas. Essas criaturas são as testemunhas principais que o historiador das
idéias interroga. Por exemplo, quem queira conhecer a mentalidade do século
XVIII não irá sondar as profundezas abissais da ciência de Leibniz, mas
deslizar sobre as superfícies brilhantes de Voltaire e Diderot. Os grandes
espíritos não pertencem propriamente à sua época: uma parte do seu ser está
mergulhada num passado imemorial, a outra projeta-se num futuro inalcançável, e
só uma parcela ou recorte deles é visível a seus contemporâneos. Mas a mente do
intelectual médio é o ponto de intersecção dos horizontes de consciência da sua
época: o que aparece na sua tela interior é aquilo que todos vêem ao mesmo
tempo, a coincidência de todos os recortes, a interconfirmação de todas as
percepções e de todas as cegueiras. Por isto seu discurso é tão bem recebido
por seus contemporâneos, e por isto é tão fácil, das suas palavras, deduzir o
que “o público” pensava.
O intelectual médio é ao mesmo tempo o porta-voz e o eco das
modas culturais. Mesmo quando as critica, não vai além delas, limitando-se a
opor uma moda a outra moda, como aqueles que, hoje em dia, opõem ao socialismo
a utopia neoliberal, ou vice-versa, sem ter a mínima idéia do parentesco que os
une.
Huxley era um ouvido especialmente atento às conversações dos
intelectuais médios, das quais ele não apenas captava com facilidade o
“espírito da época”, mas inferia as mais espantosas e acertadas conclusões
sobre o rumo que as coisas iriam tomar se aquelas idéias, em vez de esgotar-se
como puras futilidades de salão, fossem levadas à prática como modelos do mundo
futuro. O Admirável Mundo Novo é o mundo que teria resultado – e que de certo
modo resultou – da aplicação das modas intelectuais da década de 30. A Ilha é o
mundo criado pelas utopias psicoterapêuticas e orientalistas dos anos 50-60.
Aldous Huxley morreu antes de que essas idéias tomassem corpo na
cultura da “New Age” e, partindo das esperanças utópicas de um novo mundo de
sanidade e autoconhecimento, desembocasse na tragédia mundial das drogas, das
seitas escravizadoras, das experiências psíquicas autodestrutivas. Não
obstante, ele captou antecipadamente a loucura por trás de tudo isso, e é
precisamente essa antevisão que dá o tema deste romance.
Publicado em 1963, este livro foi lido como uma espécie de
antítese do Admirável Mundo Novo. Enquanto o romance de 1932 trazia o retrato
de uma sociedade opressiva e mecanizada, da qual toda espontaneidade humana
tinha sido extirpada em benefício da ordem e da produtividade, a ilha de Pala
era como que a materialização dos sonhos de liberdade da geração flower power:
amor livre, religiosidade sem dogmas, respeito às diferenças individuais,
incentivo à expressão das emoções, tudo num ambiente ecológico de reverência
pela natureza.
Sublinhava essa interpretação o fato de que a utopia fosse, no
capítulo final, brutalmente destruída pelos tanques da vizinha ilha de
Rendang-Lobo, encarnação de tudo o que a juventude dos anos 60 mais odiava:
industrialismo, militarismo, religião tradicional, lei e ordem.
Compreendido assim, A Ilha não era senão a tradução ficcional de
lugares-comuns da retórica esquerdista da época, mista de “New Age” e “New
Left”. Daí o imenso sucesso do livro. Ele parecia dizer tudo o que a geração
mais pretensiosa de todos os tempos queria ouvir. Mesmo a derrota da utopia, em
vez de ter um efeito deprimente, parecia exaltá-la até às nuvens: Pala fôra
destruída por ser boa demais para este mundo, como Che Guevara, derrotado pelo
mais pífio exército sul-americano, transcendia no mesmo ato os julgamentos
humanos e subia aos céus como um Ersatz comunista de Jesus Cristo.
Êxitos de livraria baseados em equívocos de interpretação não
são raros na história da literatura. Na verdade, A Ilha é o mais temível
inquérito sobre o auto-engano da geração que o aplaudiu. No ambiente de
entusiasmo utópico da época, seria impossível que os leitores o compreendessem.
Isso teria exigido deles um realismo cruel, que mesmo à distância de quatro
décadas ainda parece difícil de suportar, tão contaminados das ilusões e
mentiras dos anos 60 permanecemos hoje. Daí que, deslizando sobre a superfície
da narrativa, quase todos os leitores deixassem escapar os detalhes mais
importantes, nos quais se esconde o sentido mesmo da última lição de um sábio.
Em primeiro lugar, a destruição de Pala não vem do exterior. É o
próprio príncipe herdeiro, Murugan, quem atrai os estrangeiros para ajudá-lo no
golpe militar destinado a romper o equilíbrio do paraíso agrícola e colocar o
país, pela força, na modernidade industrial. Os ideais da “geração Woodstock”,
com efeito, apenas usavam a linguagem do primitivismo agrícola como veículos de
expressão de seu ódio à sociedade industrial, mas essa revolta era, ela
própria, um fenômeno da intelectualidade urbana e universitária, e supunha uma
dose de liberdade de expressão e meios de comunicação que seriam inconcebíveis
em qualquer sociedade agrícola. Quando Murugan acusa os governantes de Pala de
“conservadores e reacionários”, ele põe o dedo na ferida: os ideais que
produziram Pala jamais poderiam ter surgido numa economia como a de Pala. A
utopia não é destruída do exterior, mas explodida desde dentro, pela sua
autocontradição congênita.
Em segundo lugar, os golpistas, tão parecidos com os militares
do Terceiro Mundo nos seus métodos de modernização autoritária, nada têm de
conservadores e tradicionalistas na sua ideologia. Murugan, bisneto do Velho
Rajá, o fundador de Pala e autor do livro sapiencial em que se inspira o regime
da ilha, acaba se voltando contra as tradições locais por influência de sua
mãe, a rani Fátima, a qual durante sua formação cultural na Europa recebera a
influência dos ensinamentos teosóficos de Helena Blavatsky, tornando-se devota
dos “Mestres do Astral”, especialmente um tal Koot-Hoomi -- figura
inconfundivelmente diabólica segundo todos os cânones da religião tradicional
-- , em cima de cujas concepções se forma a aliança entre a família real de
Pala e os militares de Rendang-Lobo. Ora, teosofismo e mensagens de Koot-Hoomi
são elementos inconfundíveis da própria ideologia “New Age”. Embora já um tanto
velhos na época, foram reaproveitados na onda geral de orientalismo pop com que
o movimento dos jovens atacava e corroía as bases cristãs da sociedade
Ocidental.
Os militares de Rendang-Lobo também não são, de maneira alguma,
“a direita”. Estão ansiosos para fazer negócios com a Standard Oil só para
poder comprar armas do bloco soviético e dar prosseguimento ao seu sonho
macabro de “revolução permanente”. Seu chefe, o Cel. Dipa, é uma espécie de
Chavez avant la lettre. Seu modernismo revolucionário representa a outra face
da ideologia “jovem” dos anos 60: o lado brutal e sanguinário personificado
pelos Black Panthers, por Ho-Chi-Minh e Fidel Castro. Pala não é destruída por
seus inimigos, mas pela contradição interna da mais mentirosa ideologia de
todos os tempos, a ideologia da esquerda norte-americana dos anos 60, que
pretendia encarnar o espírito de “paz e amor” ao mesmo tempo que espalhava no
mundo “um, dois, três, muitos Vietnãs”.
Ainda mais significativo é que a origem das concepções utópicas
do regime de Pala remontasse à fusão de vagos remanescentes do budismo tântrico
com as idéias de evolucionismo biológico trazidas, no século passado, por um
médico escocês, meio sábio, meio charlatão, que adquirira prestígio na ilha
curando uma misteriosa doença de seu governante por meio do “magnetismo
animal”. Essa mistura de budismo heterodoxo, evolucionismo e magnetismo compõe
a fórmula inconfundível do teosofismo de Madame Blavatsky. Assim, a raiz do
utopismo anárquico de Pala e do modernismo autoritário de seu príncipe golpista
é, rigorosamente, a mesma.
Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o teosofismo de
Blavatsky foi, notoriamente, um instrumento usado pelo imperialismo inglês para
corroer as tradições religiosas autênticas das nações orientais e torná-las
mais vulneráveis à dominação cultural estrangeira por meio de um entorpecente
pseudo-espiritual fabricado em Londres por uma vigarista russa. [1]
Pelo lado da ideologia palanesa, portanto, o lixo ancestral não
é menos fedorento que o teosofismo explícito de Rendang-Lobo. Já no segundo
capítulo do livro, o náufrago Will Farnaby, traumatizado pelo perigo recente, é
curado de seus males pelo método freudiano da ab-reação no curso de uma
psicoterapia improvisada... por uma garota de nove anos. Mary Sarojini
MacPhail, a garota, neta do atual guru médico da ilha, resume na sua pessoinha
os princípios de educação e ética ali vigentes: são os princípios do
sincerismo, do “botar para fora”, que os “grupos de encontro” e as técnicas
psicoterápicas de “sensibilização” e “liberação” disseminaram no mundo a partir
de Esalen, Califórnia, e que marcaram inconfundivelmente a atmosfera dos anos
60. O festival de experimentos psíquicos e “liberações” desembocou no império
mundial dos traficantes de drogas e na transformação da delinqüência juvenil (e
infantil) numa catástrofe global de proporções incontroláveis. Na época, porém,
prometia um novo mundo de espontaneidade e sanidade. Todas as crianças de Pala
são versadas em “auto-expressão”, aquela confissão simplória e cínica dos
próprios maus sentimentos que, teoricamente, os tornaria inofensivos. O fato é
que a “auto-expressão”, ensinada em grupos-de-encontro por psiquiatras e
psicoterapeutas “libertadores” nos conventos católicos, suscitou entre as
monjas uma epidemia de lesbianismo e de casos amorosos com seus terapeutas,
levando praticamente à destruição de várias ordens religiosas. De braços dados
com o pseudo-orientalismo, a “libertação” psicoterápica abriu caminho para que
milhões de jovens abandonassem o cristianismo e se entregassem às mais
tirânicas manipulações psíquicas nas mãos de seitas delinqüenciais como “Love
Family”, que, em nome da expressão espontânea das emoções, obrigava crianças de
quatro anos de idade a submeter-se, junto com seus pais, à prática de sexo
grupal. A imensidão dos danos psicológicos trazidos a essa geração jamais
poderá ser medida exatamente. As tristezas e as vergonhas acumuladas são
demasiado profundas para vir à tona. Documentos aterrorizantes acumulam-se, em
pilhas, nos milhares de clínicas especializadas em tratamentos de egressos de
seitas, sobretudo ao longo da Costa Oeste americana -- o lugar onde nasceria,
segundo a promessa da época, a nova civilização de sanidade, paz e amor. [2]
Os efeitos terrificantes, porém, não nasceram do mero acaso.
Fruto e raiz têm sua continuidade lógica. Os “grupos-de-encontro” nasceram da
pesquisa militar sobre guerra psicológica e controle comportamental. Um de seus
pioneiros, Kurt Lewin, já na década de 40 havia chegado à conclusão de que a
pressão sutil e disfarçada do grupo era o meio mais efetivo de produzir
mudanças de comportamento. A lição foi bem aprendida por Carl Rogers, Fritz
Perls, Abraham Maslow e outros criadores dos “grupos-de-encontro” da década de
60. A “liberação”, em suma, não passava de “engenharia do consentimento”. Lewin
e seus sucessores haviam descoberto um tipo de controle comportamental
infinitamente mais eficiente e irresistível do que todas as técnicas descritas
no Admirável Mundo Novo. Como admitiu um dos praticantes do método, Robert
Blake, ex-aluno de Lewin no Tavistock Institute de Londres (a principal
academia inglesa de guerra psicológica), “não importa quanto o orientador
desses grupos tente ser não-diretivo, ele será ainda sutilmente ditatorial e
até mais ditatorial (por causa da sua sutileza) do que o mais rígido
adestrador, porque todo o controle está escondido”. [3] Por uma coincidência
que neste contexto adquire as dimensões de um símbolo, Blake dirigiu um desses
grupos justamente na Standard Oil – a empresa com a qual o príncipe herdeiro
Murugan está louco para fazer negócios.
Após presenciar uma sessão de “educação para o amor” das
crianças de Pala, Will Farnaby, o visitante trazido pelo naufrágio, protesta:
“Isto é puro Pavlov!”. O instrutor, com aquele ar beatífico de tantos lavadores
de cérebros da década de 60, responde: “Pavlov usado exclusivamente com bom
propósito. Pavlov para a amizade, para a confiança, para a compaixão.”
Tanto pelas suas origens blavatskianas quanto pelos métodos de
dirigismo sutil, a ideologia palanesa é irmã gêmea do autoritarismo de
Rendang-Lobo. A Ilha não é a tragédia de um paraíso de liberdade destruído pela
invasão de militares malvados: é a tragédia da autodestruição de uma utopia
intrinsecamente má e mentirosa envolta em belas palavras.
No momento culminante da narrativa, Will Farnaby, finalmente
rendido aos encantos da “religião sem dogmas” dos palaneses, resolve
experimentar a moksha, a erva alucinógena ritual que, em vez de precipitar somente
o consumidor num estado de apatetado bem-estar como o soma do Admirável Mundo
Novo, lhe abriria as portas do conhecimento transcendental. Nos primeiros
instantes, Will “vê a luz”, ou pelo menos pensa que vê. Mergulha num estado de
beatitude indescritível e supõe ter conhecido o próprio Deus. De repente, a
visão se transfigura. Abrem-se as portas do inferno: vermes horrendos aparecem
misturados à figura de Adolf Hitler que gesticula e berra. A visão de Will
mostra a verdadeira natureza da religião palanesa: uma religião de
“experiências psíquicas”, incapaz de transcender a dualidade cósmica e
elevar-se ao reino da eternidade. É a religião dos “grupos-de-encontro”, o
substitutivo postiço que uma estratégia política oportunista quis substituir ao
cristianismo. Tão logo Will emerge do transe, ele ouve os primeiros tiros do
exército invasor: é a mentira essencial de Pala que se desfaz ao mesmo tempo
que a falsa visão espiritual.
Poucos livros foram tão fundo na compreensão do auto-engano
congênito da cultura contemporânea. Perto da pedagogia palanesa da ilusão, as
técnicas de controle social do Admirável Mundo Novo parecem ingênuas e
rudimentares, assim como perto da engenharia comportamental dos anos 60 o
totalitarismo explícito da década de 30 parece coisa de orangotangos. O
diagnóstico impiedoso do neototalitarismo mental dos anos 60 não pôde ser
compreendido por seus contemporâneos. Eles estavam embriagados na mentira
nascente, e a antevisão de Huxley passou léguas acima de suas cabeças. Mas,
hoje, vivemos no mundo criado por aqueles malditos “jovens idealistas” dos anos
60. As técnicas de controle social e engenharia do consentimento já não são
experiências limitadas, efetuadas na privacidade de grupos-de-encontro: são o
dia a dia das escolas públicas, onde nossos filhos se encontram à mercê daquilo
que Pascal Bernardin chamou “ministério da reforma psicológica”. [4] Tal como
Mary Sarojini MacPhail, cada criança, submetida à pressão sutil do grupo, aí
adota alegremente as condutas desejadas, sem ter a mínima idéia de possíveis
alternativas. Nos EUA, os resultados da adoção maciça dessas técnicas no ensino
já são patentes: os índices assustadores de consumo de drogas e a criminalidade
infantil nas escolas públicas levam muitos pais a preferir educar seus filhos
em casa, enquanto a Prefeitura de Nova York, admitindo-se incapaz de controlar
a violência das crianças, privatiza suas escolas como quem entrega um fardo
superior às suas forças. No Brasil, esse processo ainda está no começo, mas
basta ler os “Parâmetros Curriculares Nacionais” do Ministério da Educação para
perceber que a engenharia de comportamento aí predomina amplamente sobre a
formação intelectual e a instrução moral honesta. O espírito dos “grupos de
encontro” dos anos 60 tomou conta da pedagogia universal, firmemente decidido a
“libertar” as crianças do legado da civilização cristã. Quando a “libertação”
mostrar sua outra face, quando Pala revelar sua identidade com Rendang-Lobo,
haverá choro e ranger de dentes. Mas, como aconteceu com a geração de 60,
nenhum dos autores da tragédia reconhecerá suas culpas: cada um deles se
proclamará um idealista traído pelos rumos imprevisíveis da História e,
revigorado pelo sentimento de inocência, tirará da cartola um novo projeto de
“mundo melhor”.
Aldous Huxley escreveu este livro para nos advertir da culpa
monstruosa que se oculta por trás da inocência dos idealistas.
22/4/2001
O filósofo Olavo de Carvalho faz uma análise precisa desta obra que reproduzo a seguir:
Em primeiro lugar, a destruição de Pala não vem do exterior. É o próprio príncipe herdeiro, Murugan, quem atrai os estrangeiros para ajudá-lo no golpe militar destinado a romper o equilíbrio do paraíso agrícola e colocar o país, pela força, na modernidade industrial. Os ideais da “geração Woodstock”, com efeito, apenas usavam a linguagem do primitivismo agrícola como veículos de expressão de seu ódio à sociedade industrial, mas essa revolta era, ela própria, um fenômeno da intelectualidade urbana e universitária, e supunha uma dose de liberdade de expressão e meios de comunicação que seriam inconcebíveis em qualquer sociedade agrícola. Quando Murugan acusa os governantes de Pala de “conservadores e reacionários”, ele põe o dedo na ferida: os ideais que produziram Pala jamais poderiam ter surgido numa economia como a de Pala. A utopia não é destruída do exterior, mas explodida desde dentro, pela sua autocontradição congênita.
Em segundo lugar, os golpistas, tão parecidos com os militares do Terceiro Mundo nos seus métodos de modernização autoritária, nada têm de conservadores e tradicionalistas na sua ideologia. Murugan, bisneto do Velho Rajá, o fundador de Pala e autor do livro sapiencial em que se inspira o regime da ilha, acaba se voltando contra as tradições locais por influência de sua mãe, a rani Fátima, a qual durante sua formação cultural na Europa recebera a influência dos ensinamentos teosóficos de Helena Blavatsky, tornando-se devota dos “Mestres do Astral”, especialmente um tal Koot-Hoomi -- figura inconfundivelmente diabólica segundo todos os cânones da religião tradicional -- , em cima de cujas concepções se forma a aliança entre a família real de Pala e os militares de Rendang-Lobo. Ora, teosofismo e mensagens de Koot-Hoomi são elementos inconfundíveis da própria ideologia “New Age”. Embora já um tanto velhos na época, foram reaproveitados na onda geral de orientalismo pop com que o movimento dos jovens atacava e corroía as bases cristãs da sociedade Ocidental.
Os militares de Rendang-Lobo também não são, de maneira alguma, “a direita”. Estão ansiosos para fazer negócios com a Standard Oil só para poder comprar armas do bloco soviético e dar prosseguimento ao seu sonho macabro de “revolução permanente”. Seu chefe, o Cel. Dipa, é uma espécie de Chavez avant la lettre. Seu modernismo revolucionário representa a outra face da ideologia “jovem” dos anos 60: o lado brutal e sanguinário personificado pelos Black Panthers, por Ho-Chi-Minh e Fidel Castro. Pala não é destruída por seus inimigos, mas pela contradição interna da mais mentirosa ideologia de todos os tempos, a ideologia da esquerda norte-americana dos anos 60, que pretendia encarnar o espírito de “paz e amor” ao mesmo tempo que espalhava no mundo “um, dois, três, muitos Vietnãs”.
Ainda mais significativo é que a origem das concepções utópicas do regime de Pala remontasse à fusão de vagos remanescentes do budismo tântrico com as idéias de evolucionismo biológico trazidas, no século passado, por um médico escocês, meio sábio, meio charlatão, que adquirira prestígio na ilha curando uma misteriosa doença de seu governante por meio do “magnetismo animal”. Essa mistura de budismo heterodoxo, evolucionismo e magnetismo compõe a fórmula inconfundível do teosofismo de Madame Blavatsky. Assim, a raiz do utopismo anárquico de Pala e do modernismo autoritário de seu príncipe golpista é, rigorosamente, a mesma.
Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o teosofismo de Blavatsky foi, notoriamente, um instrumento usado pelo imperialismo inglês para corroer as tradições religiosas autênticas das nações orientais e torná-las mais vulneráveis à dominação cultural estrangeira por meio de um entorpecente pseudo-espiritual fabricado em Londres por uma vigarista russa.
Pelo lado da ideologia palanesa, portanto, o lixo ancestral não é menos fedorento que o teosofismo explícito de Rendang-Lobo. Já no segundo capítulo do livro, o náufrago Will Farnaby, traumatizado pelo perigo recente, é curado de seus males pelo método freudiano da ab-reação no curso de uma psicoterapia improvisada... por uma garota de nove anos. Mary Sarojini MacPhail, a garota, neta do atual guru médico da ilha, resume na sua pessoinha os princípios de educação e ética ali vigentes: são os princípios do sincerismo, do “botar para fora”, que os “grupos de encontro” e as técnicas psicoterápicas de “sensibilização” e “liberação” disseminaram no mundo a partir de Esalen, Califórnia, e que marcaram inconfundivelmente a atmosfera dos anos 60. O festival de experimentos psíquicos e “liberações” desembocou no império mundial dos traficantes de drogas e na transformação da delinqüência juvenil (e infantil) numa catástrofe global de proporções incontroláveis. Na época, porém, prometia um novo mundo de espontaneidade e sanidade. Todas as crianças de Pala são versadas em “auto-expressão”, aquela confissão simplória e cínica dos próprios maus sentimentos que, teoricamente, os tornaria inofensivos. O fato é que a “auto-expressão”, ensinada em grupos-de-encontro por psiquiatras e psicoterapeutas “libertadores” nos conventos católicos, suscitou entre as monjas uma epidemia de lesbianismo e de casos amorosos com seus terapeutas, levando praticamente à destruição de várias ordens religiosas. De braços dados com o pseudo-orientalismo, a “libertação” psicoterápica abriu caminho para que milhões de jovens abandonassem o cristianismo e se entregassem às mais tirânicas manipulações psíquicas nas mãos de seitas delinqüenciais como “Love Family”, que, em nome da expressão espontânea das emoções, obrigava crianças de quatro anos de idade a submeter-se, junto com seus pais, à prática de sexo grupal. A imensidão dos danos psicológicos trazidos a essa geração jamais poderá ser medida exatamente. As tristezas e as vergonhas acumuladas são demasiado profundas para vir à tona. Documentos aterrorizantes acumulam-se, em pilhas, nos milhares de clínicas especializadas em tratamentos de egressos de seitas, sobretudo ao longo da Costa Oeste americana -- o lugar onde nasceria, segundo a promessa da época, a nova civilização de sanidade, paz e amor.
Os efeitos terrificantes, porém, não nasceram do mero acaso. Fruto e raiz têm sua continuidade lógica. Os “grupos-de-encontro” nasceram da pesquisa militar sobre guerra psicológica e controle comportamental. Um de seus pioneiros, Kurt Lewin, já na década de 40 havia chegado à conclusão de que a pressão sutil e disfarçada do grupo era o meio mais efetivo de produzir mudanças de comportamento. A lição foi bem aprendida por Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow e outros criadores dos “grupos-de-encontro” da década de 60. A “liberação”, em suma, não passava de “engenharia do consentimento”. Lewin e seus sucessores haviam descoberto um tipo de controle comportamental infinitamente mais eficiente e irresistível do que todas as técnicas descritas no Admirável Mundo Novo. Como admitiu um dos praticantes do método, Robert Blake, ex-aluno de Lewin no Tavistock Institute de Londres (a principal academia inglesa de guerra psicológica), “não importa quanto o orientador desses grupos tente ser não-diretivo, ele será ainda sutilmente ditatorial e até mais ditatorial (por causa da sua sutileza) do que o mais rígido adestrador, porque todo o controle está escondido”. Por uma coincidência que neste contexto adquire as dimensões de um símbolo, Blake dirigiu um desses grupos justamente na Standard Oil – a empresa com a qual o príncipe herdeiro Murugan está louco para fazer negócios.
Após presenciar uma sessão de “educação para o amor” das crianças de Pala, Will Farnaby, o visitante trazido pelo naufrágio, protesta: “Isto é puro Pavlov!”. O instrutor, com aquele ar beatífico de tantos lavadores de cérebros da década de 60, responde: “Pavlov usado exclusivamente com bom propósito. Pavlov para a amizade, para a confiança, para a compaixão.”
Tanto pelas suas origens blavatskianas quanto pelos métodos de dirigismo sutil, a ideologia palanesa é irmã gêmea do autoritarismo de Rendang-Lobo. A Ilha não é a tragédia de um paraíso de liberdade destruído pela invasão de militares malvados: é a tragédia da autodestruição de uma utopia intrinsecamente má e mentirosa envolta em belas palavras.
No momento culminante da narrativa, Will Farnaby, finalmente rendido aos encantos da “religião sem dogmas” dos palaneses, resolve experimentar a moksha, a erva alucinógena ritual que, em vez de precipitar somente o consumidor num estado de apatetado bem-estar como o soma do Admirável Mundo Novo, lhe abriria as portas do conhecimento transcendental. Nos primeiros instantes, Will “vê a luz”, ou pelo menos pensa que vê. Mergulha num estado de beatitude indescritível e supõe ter conhecido o próprio Deus. De repente, a visão se transfigura. Abrem-se as portas do inferno: vermes horrendos aparecem misturados à figura de Adolf Hitler que gesticula e berra. A visão de Will mostra a verdadeira natureza da religião palanesa: uma religião de “experiências psíquicas”, incapaz de transcender a dualidade cósmica e elevar-se ao reino da eternidade. É a religião dos “grupos-de-encontro”, o substitutivo postiço que uma estratégia política oportunista quis substituir ao cristianismo. Tão logo Will emerge do transe, ele ouve os primeiros tiros do exército invasor: é a mentira essencial de Pala que se desfaz ao mesmo tempo que a falsa visão espiritual.
Poucos livros foram tão fundo na compreensão do auto-engano congênito da cultura contemporânea. Perto da pedagogia palanesa da ilusão, as técnicas de controle social do Admirável Mundo Novo parecem ingênuas e rudimentares, assim como perto da engenharia comportamental dos anos 60 o totalitarismo explícito da década de 30 parece coisa de orangotangos. O diagnóstico impiedoso do neototalitarismo mental dos anos 60 não pôde ser compreendido por seus contemporâneos. Eles estavam embriagados na mentira nascente, e a antevisão de Huxley passou léguas acima de suas cabeças. Mas, hoje, vivemos no mundo criado por aqueles malditos “jovens idealistas” dos anos 60. As técnicas de controle social e engenharia do consentimento já não são experiências limitadas, efetuadas na privacidade de grupos-de-encontro: são o dia a dia das escolas públicas, onde nossos filhos se encontram à mercê daquilo que Pascal Bernardin chamou “ministério da reforma psicológica”. Tal como Mary Sarojini MacPhail, cada criança, submetida à pressão sutil do grupo, aí adota alegremente as condutas desejadas, sem ter a mínima idéia de possíveis alternativas. Nos EUA, os resultados da adoção maciça dessas técnicas no ensino já são patentes: os índices assustadores de consumo de drogas e a criminalidade infantil nas escolas públicas levam muitos pais a preferir educar seus filhos em casa, enquanto a Prefeitura de Nova York, admitindo-se incapaz de controlar a violência das crianças, privatiza suas escolas como quem entrega um fardo superior às suas forças. No Brasil, esse processo ainda está no começo, mas basta ler os “Parâmetros Curriculares Nacionais” do Ministério da Educação para perceber que a engenharia de comportamento aí predomina amplamente sobre a formação intelectual e a instrução moral honesta. O espírito dos “grupos de encontro” dos anos 60 tomou conta da pedagogia universal, firmemente decidido a “libertar” as crianças do legado da civilização cristã. Quando a “libertação” mostrar sua outra face, quando Pala revelar sua identidade com Rendang-Lobo, haverá choro e ranger de dentes. Mas, como aconteceu com a geração de 60, nenhum dos autores da tragédia reconhecerá suas culpas: cada um deles se proclamará um idealista traído pelos rumos imprevisíveis da História e, revigorado pelo sentimento de inocência, tirará da cartola um novo projeto de “mundo melhor”.
Conclusão:
1. As principais características da sociedade utópica de Pala e que a levaram a destruição são as que se seguem:
- Considerar que a natureza é sacrossanta. (Não é)
- O princípio de que todas as pessoas são boas. (Não são)
- O princípio de que a mente do ser humano é capaz de produzir a realidade. (Não é capaz)
- A revolta contra o cristianismo. (A única possibilidade do ser humano é via cristianismo. Não há outra).
- A experiência humana desassociada da possibilidade de transcendência para o divino. (Ateísmo, Gnosticismo)
- O antropocentrismo (do grego anthropos, "humano"; e kentron, "centro"), uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, tudo no universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem.
- A tentativa de libertação do próprio destino.
- A rebelião metafísica.
- A tirania intrínseca com face humana.
- A falta de liberdade individual.
- A destruição da liberdade.
- A modificação da sociedade por meios subliminares.
- O controle da sociedade.
- O totalitarismo.
2. O moksha (erva alucinógena) faz a ligação com a própria condição humana (bom/mau). Uma “experiência psíquica”, incapaz de transcender a dualidade cósmica e elevar-se ao reino da eternidade. É a mentira essencial de Pala que se desfaz ao mesmo tempo em que a falsa visão espiritual.
3. Pala foi destruída pela própria utopia, pois a utopia não resiste a uma única noite frente à realidade.
- Não é possível produzir um ser humano ideal a partir de critérios humanos.
- Não se pode resolver os problemas humanos produzindo uma reengenharia humana, ou seja, mudando a própria natureza das pessoas.
- Não se pode assumir o lugar de Deus e construir um novo homem.
Finalizando:
“A Ilha não é a tragédia de um paraíso de liberdade destruído pela invasão de militares malvados: é a tragédia da autodestruição de uma utopia intrinsecamente má e mentirosa envolta em belas palavras”
Se o mundo não é perfeito, cabe ao homem promover atos perfeitos para viver melhor e não querer construir um mundo perfeito.
“Aldous Huxley escreveu este livro para nos advertir da culpa monstruosa que se oculta por trás da inocência dos idealistas”, afirma o prof. José Monir Nasser.
 A sagração da primavera descreve as origens, o impacto e as conseqüências da Grande Guerra de 1914-1918.
A sagração da primavera descreve as origens, o impacto e as conseqüências da Grande Guerra de 1914-1918. A sagração da primavera descreve as origens, o impacto e as conseqüências da Grande Guerra de 1914-1918.
A sagração da primavera descreve as origens, o impacto e as conseqüências da Grande Guerra de 1914-1918.


.jpg)

.jpg)