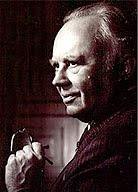Autor: Gustavo Corção
Editora: Record
Edição: 2ª
Ano: 1973
Páginas: 437
a.jpg) Sinopse: Uma vez entendido o fundo da questão, todo o século XX merece ser revisto nas causas dos seus principais acontecimentos. Quem poderia pensar, aqui no Brasil, que uma crise no governo francês, o Affaire Dreyfus, tivesse importância para o século que começava? Corção vê estas causas e descreve como a política geralmente ensinada e propalada está cheia de enganos e erros. Assim também para a condenação da Action Française, de Charles Maurras, o papel de Franco na salvação da Espanha e todos os demais acontecimentos do século XX. Termina com um pungente capítulo sobre a Igreja, sobre o Concílio Vaticano II, que abre as portas aos progressistas, dando início ao que Corção chamou de pecado terminal.
Sinopse: Uma vez entendido o fundo da questão, todo o século XX merece ser revisto nas causas dos seus principais acontecimentos. Quem poderia pensar, aqui no Brasil, que uma crise no governo francês, o Affaire Dreyfus, tivesse importância para o século que começava? Corção vê estas causas e descreve como a política geralmente ensinada e propalada está cheia de enganos e erros. Assim também para a condenação da Action Française, de Charles Maurras, o papel de Franco na salvação da Espanha e todos os demais acontecimentos do século XX. Termina com um pungente capítulo sobre a Igreja, sobre o Concílio Vaticano II, que abre as portas aos progressistas, dando início ao que Corção chamou de pecado terminal.
Editora: Record
Edição: 2ª
Ano: 1973
Páginas: 437
a.jpg) Sinopse: Uma vez entendido o fundo da questão, todo o século XX merece ser revisto nas causas dos seus principais acontecimentos. Quem poderia pensar, aqui no Brasil, que uma crise no governo francês, o Affaire Dreyfus, tivesse importância para o século que começava? Corção vê estas causas e descreve como a política geralmente ensinada e propalada está cheia de enganos e erros. Assim também para a condenação da Action Française, de Charles Maurras, o papel de Franco na salvação da Espanha e todos os demais acontecimentos do século XX. Termina com um pungente capítulo sobre a Igreja, sobre o Concílio Vaticano II, que abre as portas aos progressistas, dando início ao que Corção chamou de pecado terminal.
Sinopse: Uma vez entendido o fundo da questão, todo o século XX merece ser revisto nas causas dos seus principais acontecimentos. Quem poderia pensar, aqui no Brasil, que uma crise no governo francês, o Affaire Dreyfus, tivesse importância para o século que começava? Corção vê estas causas e descreve como a política geralmente ensinada e propalada está cheia de enganos e erros. Assim também para a condenação da Action Française, de Charles Maurras, o papel de Franco na salvação da Espanha e todos os demais acontecimentos do século XX. Termina com um pungente capítulo sobre a Igreja, sobre o Concílio Vaticano II, que abre as portas aos progressistas, dando início ao que Corção chamou de pecado terminal.
Trechos da Obra:
“Mais tarde soube pelo Fábio, de nós todos o mais informado, que o movimento de Economia e Humanismo fora fundado pelo Pe. Lebret e outro dominicano, o Pe. Desroches, que já deixara o hábito e se tornara resolutamente marxista. O Pe. Lebret morreu dentro da Igreja e da Ordem, e até disseram publicamente que foi ele o inspirador da Populorum Progressio.
Naquele tempo não se comentavam tais coisas em nosso grupo, e pouco sabíamos do que já era efervescência e quase explosão na Europa. Recalquei minhas impressões, e reconheci que nada do que ouvira do Fe. Lebret se enquadrava mal na doutrina sagrada. O que eu poderia dizer, se naquele tempo usássemos tal vocabulário, e que sua pregação era secularizante. Punha o centro de gravidade da vida nas coisas temporais. Aonde nos levaria, com o tempo, o interesse despertado e difundido pelo Pe. Lebret?" (CORÇÃO, p.28)
"Na década dos 50, contra meus mais consolidados costumes, aventurei-me a viajar pelo Brasil e a fazer conferências sobre as coisas do Reino de Deus. Lembro-me de uma viagem nossa a Belo Horizonte onde, com surpresa, vimos que os estudantes tinham colocado faixas pelas ruas, e espalhado camionetas pela cidade a anunciar as conferências do autor destas linhas. Toda a Juventude Católica estava conosco nesse tempo e não se percebia um só sinal de comunismo entre os moços. Perdão, havia o Luís Carlos. Foi uma maratona de conferências, entrevistas e conversas em círculo, sem interrupção. Creio que em 2 ou 3 dias fizemos mais de 12 conferências, às vezes com 400 ouvintes, moços universitários. Não começara a infiltração de estupidez. Os moços eram ainda adjetivamente moços, e não substantivamente e magicamente "jovens". O comunismo ainda não começara... Perdão, havia o Luís Carlos. Sim, o Luís Carlos. No segundo dia de batalha, ao meio-dia e trinta, consegui fugir dos moços, e já me esgueirava para chegar ao hotel, onde contava descansar um pouco e almoçar, quando senti travarem-me o braço. Era o Luís Carlos, que se apresentava e queria dizer-me uma palavra. Conversamos horas: ele tinha idéias comunistas, mas já desconfiava de seu quilate; queria mais. No dia do Corpo de Deus, numa grande festa em que mais de quinhentos moços confessaram e comungaram, lá estava o Luís Carlos, humilde e feliz. Meses depois recebi no Rio uma carta dos pais de Luís Carlos, e num farrapo de papel um agradecimento escrito a lápis e uma despedida marcando encontro no céu." (CORÇÃO, p. 29)
"Conto estas coisas porque esse Pe. Lage é hoje figura internacional. Há livros em francês mentindo sobre o Pe. Francisco Lage Pessoa, como mentem sobre Dom Hélder Câmara. E o que eu quero dizer, em poucas linhas, é que convivi, e dia a dia acompanhei a evolução desses padres que trocaram a Comunhão dos Santos pelo Partido Comunista. E assim como esses, vi de perto muitas e muitas outras degradações que julgava impossíveis. Começava para nós a Paixão da Igreja segundo o século XX." (CORÇÃO, p. 30)
"Aqui no Brasil nós sabemos que a pregação de Economia e Humanismo do Pe. Lebret, e dos dominicanos contaminados, levou o Pe. Francisco Lage ao marxismo e ao comunismo militante. Sabemos que foi essa infiltração que transformou o Convento de Perdizes, dos frades dominicanos, em quartel-general do guerrilheiro marighela. Sabemos que as moças egressas de tradicionais colégios católicos se transformaram em salteadoras de bancos, amantes de comunistas e culpadas de assassinatos de inocentes policiais. E para maior estridência do escândalo, e para maior evidência da fonte de inspiração, temos um arcebisto [D. Helder Câmara - 1901-1999] a esvoaçar pelo mundo inteiro e a pregar uma espécie de socialismo em favor do qual é belo e meritório o ato de seqüestro e assassinato de refens." (CORÇÃO, P. 90)
Sobre o autor:
Sobre o autor:
Gustavo Corção nasceu em dezembro de 1898, no Rio de Janeiro. Cursou Engenharia na antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Trabalhou em Astronomia de Campo, em Mato Grosso; em serviço de Energia Elétrica, no Rio de Janeiro e Espírito Santo; em Radiocomunicações, de 1925 a 1937, e depois em atividades industriais, até 1948. Casou-se em 1924, e, em segundas núpcias, em 1937. Converteu-se à Igreja Católica em 1939. Publicou seu primeiro livro 'A descoberta do outro', em 1944; em 1945, 'Três alqueires e uma vaca'; em 1951, 'Lições de Abismo', e, em 1952, 'Fronteiras da Técnica'; em 1956, 'Dez Anos' (Crônicas) e 'O Desconcerto do Mundo', em 1965. Foi colaborador semanal de 'O Estado de São Paulo', do 'Diário de Notícias', do Rio de Janeiro, e do 'Correio do Povo', de Porto Alegre. Faleceu em 6 de julho de 1978.
Gustavo Corção
1896 - 1978
Um dos maiores
escritores de nossa língua, marginalizado e enterrado pelas esquerdas que
dominam nosso universo jornalístico e editorial.
O
Século do Nada — Introdução 1ª
parte
(Página 12 até 34)
Comecei
hoje. Começo agora, nestas linhas, um livro com que venho sonhando há mais de
quatro anos e que agora, depois de muitas hesitações, resolvi começar, mas logo
pressenti que este livro, como todos os que quis escrever e escrevi, e como os
milhares que não escrevi, está rigorosamente acima de minhas forças. O fato é
que tudo o que li nestes últimos cinco anos sobre o que aconteceu no mundo
católico, e sobre o que me parece explicar o que está acontecendo, compele-me
imperativamente, preceptivamente, a escrever este livro, não por julgá-lo
necessário e útil para a Igreja e para o mundo, mas simplesmente por julgá-lo
indispensável à completação e ao retoque, do testemunho que venho deixando há
tantos anos em livros, aulas e artigos. Mas, além desse imperativo de algumas
retratações que tenho impaciência de formular, não escondo o velho vezo de
professor que me leva ao temerário empreendimento de buscar explicações nas
águas turvas deste século. Daí os subtítulos que já tenho antes de ter o
título:
RETRATAÇÕES
REAFIRMAÇÕES
INTERROGAÇÕES
E OUTROS ... ÕES.
Nestas
páginas de introdução, tentarei dar ao leitor algumas explicações pessoais
sobre posições tomadas, que hoje me obrigam às retratações e me estimulam à
busca das causas. O tom será aqui e ali pessoal, evocativo e afetivo, porque na
verdade vou reabrir feridas, ou ferir-me onde me julgava ileso. Deixarei correr
a memória sem preocupação de método e de sistematização, mas depois desse desabafo
no ombro imaginário, de um leitor imaginariamente amigo, levantarei vôo para as
terras onde todo o drama deste século se iniciou e se desenrolou, e então
tratarei de esquecer-me de mim e do leitor, para entregar-me de corpo e alma à
observação do registro dos fatos, que nos trouxeram tão inimagináveis
calamidades. Teremos de entrevistar muitos autores, teremos de nos afastar aqui
e ali de alguns a que estivemos quase colados, mas também teremos de nos
aproximar de outros que um preconceito dos anos quarenta e cinqüenta nos
impedira de ver e de admirar. Tudo isto custou para o autor destas linhas um
esforço de estudo que só pôde realizar porque, no momento em que se aposentava
de alguns deveres de estado e se simplificava a família, teve ainda reservas de
força e saúde para rever e ler tudo o que não lera em trinta anos de estudo
mais aplicado à doutrina perene do que aos turbilhões produzidos na história
pelos contatos, sempre difíceis e sempre trágicos, entre a Igreja e o Mundo.
Comecemos,
pois, as explicações pessoais prometidas. E como sempre convém a qualquer obra
que, embora minúscula, pretenda ser serviço de Deus, comecemos pelo sinal da
santa cruz.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Antes de
mais nada, convém agradecer a Deus o fato de estarmos nós ainda em tempo de
colher e de louvar. Por mim, considero com estupefação, e certo
constrangimento, este elevado patamar da vida que nunca julguei alcançar.
Desde que
me lembro de mim, vejo-me sempre espantado de sobreviver. Não que tivesse índole
melancólica ou tristonha. Ao contrário, fui um menino alegre e cheio de vida,
mas por isso mesmo, ou por uma das tantas contradições do pêndulo da alma,
sempre senti muito vivo, muito aguçado, o provisório de tudo o que por aqui
andei fazendo. Desde os dez ou doze anos vivo eu a sobreviver e a me espantar.
Quando fiz vinte e quatro achei-me um Matusalém e apostei comigo mesmo que não
chegaria aos vinte e cinco.
Anos
atrás conheci Oswaldo Goeldi. Estava querendo ilustrar minhas Lições de Abismo
e julgou que, antes de prosseguir o trabalho, devia conhecer pessoalmente o
autor. Foi assim, em busca de minha obra, que uma tarde bateu-me à porta.
Conversamos. Dez minutos depois éramos amigos de infância; com mais dez minutos
quase chorávamos juntos, cada um sofrendo a dor do outro. A dele, no momento,
era a Bienal. Só de falar "Bienal" o olhar abrasava-se e o nome
saía-lhe como um soluço.
— E você?
E você? — perguntava-me aflito de não saber qual era, no dia, a minha bienal. E
foram só esses míseros vinte minutos toda a nossa amizade vivida. Tempos
depois, atravessando uma rua entre os carros de um congestionamento, avistei-o
numa fila de ônibus. Ele também me viu, e espantadíssimo exclamou: — Você está
vivo? Você está vivo?
No dia
seguinte recebi a notícia mais estapafúrdia e mais natural do mundo: Oswaldo
Goeldi morrera.
Esta
curta história de uma curtíssima amizade está descabida neste livro, ou melhor,
nesta breve introdução de um livro que muito me admirará se um dia o tiver nas
mãos terminado. O que tentei transmitir foi uma idéia simples, ou um critério
simples que me classifica no hemisfério da humanidade onde se acotovelam,
sempre mal instaladas, as almas incôngruas que andam por aqui como se
estivessem a viajar no "outro lado", ao revés, ao avesso de tudo.
O fato é
que assim mesmo de surpresa em surpresa, de admiração em admiração, de
agradecimento em agradecimento, percorri uma quilometragem que pouco falta para
somar um século. Nasci antes do balão de Santos Dumont. Antes do "Affaire
Dreyfus". Antes do Século. E desde cedo comecei a ensinar. Aos onze
anos tive os primeiros alunos de aritmética, e cedo habituei-me a respeitar as
formas humildes da incapacidade de compreender as primeiras noções da abstração
matemática. Lembro-me com ternura e admiração do meu aluno e amigo José, da
mesma idade, que depois de um esforço quase muscular, rubro de vergonha ou do
esforço, suplicava-me:
—
Gustavo, explica outra vez. Mais devagar. Você sabe que eu sou burro.
Mais
tarde, na vida de professor ou de jornalista terei muitas vezes uma lancinante
saudade da casta e genial burrice do José.
Cresci
dentro de um colégio, ensinando em todos os níveis e a todas as raças. Quando
volvo os olhos para qualquer estação do passado, lá me veio a ensinar. Ensinei
no Colégio Corção — colégio pobre e supermisto, colégio de antigamente — todas
as matérias do primário e do secundário, e mais algumas que a fantasia da vida
acrescentava. Ensinei matemática, português, geografia, ciências, taquigrafia,
xadrez e esgrima. Toda a família estudava e ensinava, e eu, dentro dela,
cumpria um modo de ser, um feitio do corpo, um código genético. Professor.
Animal-professor. Sempre. Na Escola Politécnica daqueles largos e claros dias
em que não existia ainda o monstro disforme chamado "universidade",
fui professor de química e de astronomia todas as vezes que o avanço sobre
colegas menos estudiosos me proporcionasse ocasião. Lei dos vasos comunicantes.
Guarde bem, leitor, esta nota: não estou aqui a me inculcar como alguém capaz
de ensinar física, química, matemática, astronomia, esgrima e xadrez. Estou
apenas dizendo que sempre, ao longo da vida, por uma fatalidade cromossômica,
andei ensinando o pouco que aprendia antes de outros aprenderem. Só me vejo
mais engenheiro do que professor no ano de 1919, em que andei a fazer
coordenadas geográficas nos confins de Mato Grosso, onde estive perdido muitas
vezes, com sede, fome, e lebre e onde aprendi a laçar boi e a apanhar no chão o
sombrero sem me apear do cavalo a galope.
A que vêm
todas essas recordações? Não incluí nos subtítulos desta obra
"confissões" nem "recordações". Abrevio, pois, as léguas
que andei por esses brasis, e os anos que vivi como engenheiro. Em certa altura
da vida troquei a astronomia pela eletrônica que acabava de nascer. E logo me
vejo, depois de 15 anos de engenharia na Radiobrás, onde com Carlos Lacombe e
José Jomotskoff fomos pioneiros dos primeiros circuitos transatlânticos de
radiotelefonia, a ensinar a dita eletrônica aplicada às telecomunicações na
recente Escola Técnica do Exército (hoje Instituto Militar de Engenharia), onde
também fui uma espécie padrinho da nova técnica, que ensinei durante 35 anos.
Na Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil, também ensinei a
mesma disciplina até a aposentadoria.
Mas antes
disto, lá no meio do caminho, quando "la dirita via era smarrita",
ao contrário do que aconteceu com Dante, achei-me de repente dentro de uma casa
luminosa, como se já estivesse no "outro lado", onde me viu naquela
tarde inesquecível o ardente olhar de Oswaldo Goeldi. Voltava à fé de meu
batismo. Voltava à Casa. Já tive a estulta extravagância de tentar contar a
história dessa volta em A
Descoberta do Outro (AGIR, 1944). Hoje tenho certo vexame do
que andei escrevendo de mim mesmo e de minhas angústias espirituais; mas não é
dessas coisas que me sinto na obrigação de me desdizer e de me retratar.
Não seria
capaz de encontrar hoje, em mim mesmo, suficiente petulância ou suficiente
inocência para escrever, reescrever ou descrever A Descoberta do Outro. Fica
como está. Quod scripsi, scripsi. Eis a dura lei da irreversibilidade
dos textos imprudentemente publicados. Se ao menos, em vez do papel e da tinta,
nos contentássemos em escrever com o dedo na areia, teríamos melhor patrono do
que Pilatos.
Bem avisado
andou Henri Charlier quando um jovem intelectual o procurou para entrevistá-lo
e pedir-lhe a história de sua conversão. Interrompendo com mau humor a obra que
pintava, rasgou uma tira de jornal e rabiscou: "Ma conversion est une
grâce immeritée de la
Toute-Puissance Divine ". Não menos sábio foi o
humilde e obscuro amigo que ouvia em silêncio as histórias dos
"convertidos" do Centro Dom Vital. Quando lhe perguntaram: — E você?
Como foi? — ele ficou meio embaraçado e afinal balbuciou: — Foi assim. Deus me
pegou, me ajeitou na porta da Igreja, e me meteu o pé...
Assim ou
assado, "à plat ventre dans la Maison Lumineuse ",
ou bola no goal de Deus, achei-me logo compelido à posição essencial de
animal-professor. Estudar para ensinar. Ensinar para ser o primeiro a aprender,
e para logo ensinar. E a par dos cursos que dei sobre a eletrônica aplicada às
telecomunicações passei a ensinar o que quer dizer, por extenso, o credo dos
Apóstolos: Creio em
Deus Pai Todo-Poderoso , etc. etc.
E deste
curso até hoje não me aposentei nem tenho nada a retratar. Nesse meio tempo
escrevi livros, escrevi artigos que ainda interminavelmente escrevo nos
jornais. Sempre na mesma posição genética, inevitável. Com exceção de algumas
páginas em que permiti que o doido, o máscara-de-ferro, tomasse a pena e
deixasse vazar a nostalgia de loucura que trazia acorrentada a sete deveres de
estado, volto sempre ao plantão, ao avental. Já disse atrás que isto é um
feitio do corpo. E agora, nesta recapitulação, assusto-me, acha-me a recear ter
sido demasiadamente professor. Perdoem-me os amigos que enfadei pelo
esquecimento de que há um tempo para tudo, como lá diz o sábio do Eclesiastes.
Mas a
razão de todo este preâmbulo, onde já corri o risco de não conseguir o que mais
almejava, não é a de me pintar para uma eventual posteridade, nem a de me
desculpar de ser o que sou irremediavelmente. Outra é a razão. Pensando em
tantos anos de ensino, de comunicações, de livros, de conferências, recapitulo
preocupado, assustado, tudo o que andei transmitindo. Ou melhor, recapitulo o
que deixei de dizer. Terei de fazer várias retificações, várias retratações,
mas agora acode-me a idéia de uma omissão que implica uma série de
recolocações, e pela qual eu estremeceria de vergonha e tristeza se, no momento
de dizer o nunc dimitis, me viesse à mente o relâmpago do negrume de tão
espantosa omissão. Qual? A de nunca ter escrito em minha longa vida de
escritor, entre tantas páginas de louvor e de admiração, de entusiasmo e de
apologia, estas poucas palavras exigidas pela mais clara verdade e pela mais
límpida justiça, sim, estas poucas palavras que já deveriam ter transbordado de
meu coração agradecido e deslumbrado:
Honra e
glória à Espanha católica de 1936.
Honra e
glória a Dom José Moscardó Ituarte,
defensor
do Alcazar, a seu, filho Luis Moscardó, a
Qeipo, de Llano e a José Antonio Primo de Rivera.
"España libre, España bella
Con roquetés y Falanges
con el tercio mui valiente..."
Honra e
glória aos doze bispos mártires e aos quinze mil padres, frades e religiosas
"verdadeiros
mártires em todo o sagrado
e
glorioso significado da palavra" (Pio XI).
Honra e
glória a todos que morreram
testemunhando
com SANGRE: "Viva Cristo Rey"!
E agora
que sobrevivi e consegui apressadamente cumprir um dever atrasado, poderemos
mais descansadamente explicar a trama de desatenções, de erros, equívocos e
empulhamentos que, entre outras coisas, produziu tão grave omissão em tantas
páginas de escritores católicos. Se Deus for servido, transmitirei ao leitor o
que venho estudando há alguns anos sobre as causas próximas da crise que aflige
nosso século e que flagela a Igreja com espantosa crueldade. Tenho a poucos
metros de distância, em formação de combate, a centena de livros básicos de que
já tirei as fichas principais; em cima da mesa as esferográficas e o papel
aberto, branco, vertiginosamente branco.
Foi em
1939. Sim, para entender as causas e as implicações de tão grave omissão,
preciso prolongar um pouco as explicações pessoais, e preciso lembrar que foi
em 1939 que me achei no grupo de amigos que nesse tempo militavam no Movimento
Litúrgico, em torno do Mosteiro de São Bento e do Centro Dom Vital. Aos
quarenta e dois anos voltava à fé do meu batismo, e abria os olhos para o
mundo. Toda a minha formação anterior era a de um engenheiro, ou de um
quase-bárbaro armado de alguns conhecimentos científicos, provado por alguns
intermitentes e malogrados acessos literários, mas totalmente desinteressado do
tumultuoso curso de acontecimentos com que o século, já quase meio andado, ganhava
corpo. É difícil imaginar maior candura e maior despreparo do que o do pobre
engenheiro e professor que em meados de 39 se achou de repente cercado e
intimado a uma incondicional rendição. Lera livros de Chesterton e
outros de Maritain. Descobria ao mesmo tempo a Igreja e o Mundo aos quarenta e
dois anos de idade. E no mesmo despertar encontrava-me a mim mesmo nas várias
tentativas que fizera no mundo da poesia, da música e da pintura. Tudo isto,
que trazia guardado, e que nesse enclausuramento me mantinha apartado do mundo,
quase como um anacoreta na Estação Receptora da Radiobrás, em Jacarepaguá,
obrigava-me agora a entrar no turbilhão dos fatos. No Brasil, o regime
originado pelo golpe de estado de 1937 inculcou-me uma aversão pelos regimes
políticos semelhantes. Vinha da Europa, e mais especialmente da França, uma
corrente de antifascismo que recebi sem procurar discernir as várias
significações que o mesmo vocábulo encobria. Vagamente tomara conhecimento da
ascensão de Hitler e de Mussolini. Lembro-me bem da primeira vez que vi em
Jacarepaguá, num cinema poeira, a figura de Adolf Hitler, a discursar num
cenário wagneriano. Levantei-me, como quem acorda, sem poder sopitar uma
exclamação: "Esse homem é um louco!" Minha mulher puxou-me pelo
casaco, e eu me espantava com a tranqüilidade da platéia. Naquele momento tive
uma fulgurante intuição de que começava um período de demência universal, mas
não imaginava que traços tomaria e que itinerários seguiria. A figura de
Mussolini, correndo em passo ginástico com seu ministério, veio compor o que
designava o termo "fascismo", e veio facilitar o sumário desprezo com
que enquadraríamos o regime de Salazar em Portugal, e a recente ditadura
implantada por Franco na Espanha.
Nos dias
em que acordei para o mundo, já a guerra civil da Espanha estava terminada. Só
ouvia vagas e sinistras alusões à hecatombe de padres e freiras feitas por
católicos que nosso grupo, fiel a Jacques Maritain, tido por mestre quase
infalível, via com certo desprezo. Eram os reacionários. A verdade é que, nas
pequenas amostras que examinei com mais atenção, os defensores da Espanha do
Alzamiento serviam mal à causa de Franco, enredando-a na do integralismo
indígena, e assim comprometendo a causa que merecia melhores advogados.
Empenhado
em estudar a filosofia tomista, e a Sagrada Doutrina, agarrei-me, ia dizer
colei-me à pele de Jacques Maritain e tomei, sem maior exame, a posição que o
mestre tomara.
Escrevendo
hoje estas linhas, no limiar de um livro que desde já me dói como um descolamento
de peles machucadas, pondero como é escuro o universo dos fatos, e como andamos
nele às apalpadelas, com um pequenino flashlight a buscar veredas entre paredes
e abismos. Além disso, pondere o leitor que naquele tempo eu tinha sete deveres
de estado, família grande, aulas e aulas por dia, e que logo começaram a
aparecer alunos que me procuravam para aprender o que eu acabava de aprender.
Do dia para a noite, ou da noite para o dia, transformara-se a vida tranqüila
do pobre engenheiro que na Estação Receptora da Radiobrás vivera quinze anos
atento aos elétrons e esquecido dos homens. Por isso, não podendo acompanhar
pelas revistas o que acontecia no mundo católico, tive de aproveitar as brechas
de tempo para estudar intensamente a doutrina perene. Em 1939 e 40 eu cairia
das nuvens, e não acreditaria, se me viessem contar o que já estava acontecendo
na gauche catholique, em
Paris. Foi preciso viver e sobreviver largamente para um dia
ter tempo de voltar atrás e de descobrir, entre outras coisas, o que a dita gauche
catholique fez com Robert Brasillach.
E ainda é
preciso lembrar que, em 1939 o mundo inteiro concentrava todas as atenções na
guerra monstruosa que começava.
De
setembro de 1939 em diante o mundo ficou brutalmente simplificado; e na mesma
proporção simplificou-se a filosofia política de meus primeiros anos de
aprendizado humanístico. Não havia errada possível: era seguir em frente na
trilha das "democracias". A queda da França lançou-me num inesperado
estupor. Chorei como uma criança, mas logo que se delineou uma possibilidade de
resistência inglesa, novamente simplificou-se para nós, brasileiros, e para
mim, católico recentemente alfabetizado, a filosofia e a conduta política. Era
ainda seguir em frente a trilha das democracias, e lá adiante, em 1941, dobrar
à esquerda.
Lavro
aqui um modesto elogio que o pobre católico semi-analfabeto daqueles anos bem
mereceu. Apesar de toda a torrente antifascista e das prestidigitações de
Hitler, que oscilavam entre o cômico e o diabólico, eu nunca tive o menor entusiasmo
pelo papel que todos, já esquecidos do pacto germano-soviético, passaram a
atribuir à URSS. Não dobrei à esquerda e resumi todos os meus anseios no desejo
da derrota de Hitler pelos ingleses e americanos. Depois veríamos.
Nesse
meio tempo, como atrás já disse, achei-me obrigado a estudar como nunca
estudara, para me colocar de pé nos meus quarenta e tantos anos de vida nova
que mais adiante, certamente, exigirá do animal-professor a sua atitude
fundamental.
Cabe aqui
um reparo sobre o Movimento Litúrgico, que foi uma espécie de trem andando que
tive de tomar. Só se cuidava da Liturgia, só se ensinava a significação da
Missa e dos Sacramentos. Havia nesse movimento uma boa tomada de consciência da
participação que os fiéis devem ter no mysterium fidei, mas havia também
qualquer coisa que não combinava bem com o pouco que já aprendera de catecismo.
Lembro com alegria a história de minha primeira iniciação catequética. Antes de
encontrar o grupo de amigos, e depois de já ter lido livros altos e difíceis, o
engenheiro, pai de família numerosa, sentiu um dia a necessidade e o valor das
proposições simples, e das fórmulas nítidas, para a custódia dos mais profundos
mistérios da Fé.
Já
possuía o primeiro compêndio que está no Símbolo dos Apóstolos. Naquele tempo
os rústicos pescadores da Galiléa sentiram a mesma necessidade e trataram logo
de gravar o primeiro Credo do Povo de Deus. O que havia de comum entre os
primeiros apóstolos e o engenheiro de 1937 ou 38 era o bom senso de quem sabe
que o homem não pensa só com a cabeça, mas também com as mãos. Nós outros,
engenheiros ou pescadores, sabemos assim, por várias vias, que o homem deve ser
dócil e obediente à realidade das coisas. O "intelectual", ao
contrário, é aquele refinadíssimo indivíduo que acha certa vulgaridade no real,
e por isso prefere pensar a conhecer, isto é, prefere jogar com os entes de
razão que ele mesmo fabrica ou compõe. Digo estas coisas, com o risco de nunca
acabar esta introdução, e por mais forte razão o livro, porque parece-me que nunca
é demasiado insistir no valor que tem o bom senso para a mais alta vida do
espírito.
Voltemos
à necessidade que um dia senti de doutrina sagrada. Procurando por toda a casa,
achei o catecismo de meu filho que cursara o Colégio Santo Inácio quando eu era
ainda vagamente filocomunista, e o Colégio Santo Inácio era ainda menos
vagamente integralista. Achei-o e tive o dissabor de ler nas margens as
reflexões desairosas que meu filho escrevera, e certamente aprendera comigo.
Havia pilhérias, irreverências e aqui ou ali algum palavrão.
Foi nesse
livrinho assim marcado por minha própria miséria que tive uma primeira visão de
conjunto da Sagrada Doutrina. Eu sentia que aquele "grau do saber"
precisa começar por uma visão global, por uma primeira aproximação de um todo
doutrinário. O progresso se processaria depois intensivamente, por
aprofundamento, e não extensivamente por alargamento.
Lia
decorando, e procurando uma primeira penetração dos mistérios da Fé. Às vezes
parava angustiado, humilhado; às vezes chorava; mas também às vezes entrevia um
fulgor de eternidade e então beijava a página, eventualmente no lugar de alguma
reflexão deixada pelo filho de um pobre-diabo que fora filocomunista em 1934 e
35. Marxista nunca.
O
materialismo ateu, e especialmente o marxismo, modéstia à parte, sempre me
pareceram estúpidos demais. Naquele tempo, não era a existência de Deus a coisa
mais difícil de aceitar de joelhos. Era o pio da vida, eram as chagas de um
Deus escandalosamente crucificado por mim. E era sobretudo o mistério da Igreja
a perpetuar com homens e para os homens a distribuição do preciosíssimo sangue.
Nos anos
da guerra, já convertido e muito ajudado pelos amigos beneditinos e por Fábio
Alves Ribeiro, comecei a ler Gardeil, Garrigou-Lagrange e Santo Tomás. Escrevi
nesse tempo o meu primeiro livro, A Descoberta do Outro, que alcançou um
inesperado sucesso: em menos de quinze dias esgotou-se a primeira edição, e em
poucos meses a segunda e a terceira. Começaram a aparecer pessoas a me procurar
no Centro Dom Vital. Minha vida tornou-se então dificílima na execução das
tarefas, mas facílima nos critérios. Devia estudar filosofia, teologia, desejar
a vitória da Inglaterra, combater o "fascismo" e a ditadura Vargas. E
principalmente devia desejar ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, ou,
pelo menos, devia nunca deixar de desejar esse desejo.
Nossa
filosofia política se resumia no credo democrático às vezes excessivamente
simplificado, mas incontestado. Nesse tempo todos nós, do São Bento, do Centro
Dom Vital e d'O Pingüim, tínhamos convicções tranqüilas e bem definidas. O
Pingüim era uma loja de discos e músicas na Rua do Ouvidor, cujo gênio tutelar,
o Rocha, Oscar Rocha, a par da fina sabedoria escondida numa doce e irônica
modéstia, dava-se ao luxo de ter uma cabeça de Beethoven. Nos fundos dessa
loja, numa escassa Área de uns quinze metros quadrados, ou pouco mais,
reunia-se todas as tardes uma tertúlia onde tive o gosto de conhecer os mais
variados e surpreendentes representantes desta tão desmoralizada humanidade.
Se
naquele tempo algum agente marciano quisesse seqüestrar um terrestre para
estudos, eu o aconselharia a procurá-lo n'O Pingüim, onde quase todas as tardes
Fernando Carneiro trazia um novo argumento para contestar Barreto Filho, a
respeito do Labour Party ou do socialismo em geral, e onde Ovale
freqüentemente trazia o brilho de seu monóculo e o inesperado de alguma nova
apreciação sobre as coisas mais definitivas e assentadas. Tínhamos também Villa
Lobos, em carne, osso e charuto, sempre lírico e sempre absurdo. E foi nesse
reduto de efêmeros que o vento da vida levou, foi nesse fundo de loja
que diversos encontraram a primeira notícia de vida eterna. Lembro-me de meu
bom afilhado Oswaldo Dourado, de minha afilhada Maria Isabel e do excelente
Tancredo Ribas Carneiro, e principalmente de Alfredo Lage, que também conheci
n'O Pingüim.
Todas as
tardes, pontualmente, derrotávamos Hitler e salvávamos o Brasil. Barreto Filho
e Fernando Carneiro tiveram a idéia de fundar a Resistência Democrática, novo
grupo que também, com o correr dos dias, tornou-se um acampamento do Reino de
Deus.
Nesse
tempo chegava da Europa católica um vento de ativismo. O cristão tinha de dar
também seu testemunho na cidade temporal. Mas a nossa Resistência Democrática
funcionou ao contrário: os resultados temporais foram medíocres, mas em
compensação foram numerosas as conversões que levaram Fernando Carneiro a fazer
um patético apelo ao Hilcar Leite, ateu, vagamente socialista e conhecedor de
todas as prisões do Rio e de Niterói. Com os estatutos na mão, Fernando
Carneiro frisava o caráter aconfessional da Resistência e concitava-o a
manter-se no seu robusto ateísmo:
— Hilcar
Leite, você agora é o único ateu desta casa, que é uma instituição
aconfessional. A Resistência Democrática espera que você cumpra o seu dever...
Todos se
riam, felizes, e no fundo da sala o próprio Hilcar Leite exibia um pobre
sorriso desdentado onde se lia a mesmo comum alegria de vivermos entre irmãos.
No dia 2
de abril de 1945 o mundo inteiro estava eletrizado com a notícia do fim da
guerra' Eu sentia um mal-estar indefinível. À noite recolhi-me mais cedo, e já
estavam todos dormindo quando o telefone tocou. Atendi. Uma voz de mulher
estrangeira gritou no meio de um vozeiro: Os russos estão entrando em Berlim!
Fiquei
silencioso. E ela repetia, com estridência: — Os russos estão entrando em
Berlim! Inexplicavelmente respondi-lhe: — Merda! E no quarto diante de minha
mesa de trabalho e do crucifixo, depois de uma breve oração deitei a cabeça nas
mãos e repeti para mim mesmo como quem geme: — Os russos estão entrando em Berlim. Uma certeza
medonha e brutal apunhalou-me: perdêramos a guerra. Ou melhor, perdêramos a
paz. Eu sentia o punhal: arrematara-se a mais hedionda conjuração de traições.
E começava, naquele dia de festividade monstruosamente equivocada, uma era de
inimagináveis imposturas. Incompreensivelmente, depois de tantos sofrimentos,
de tão detidos esforços, de tão maravilhosos heroísmos, os povos de língua
inglesa, derrotados por si mesmos, pelo liberalismo e pelo democratismo,
entregavam ao Minotauro comunista dez vezes mais do que a parte da Polônia em
razão da qual entrara o mundo em guerra. Singular e cínico paradoxo: para cumprir
um tratado e para evitar a partilha da Polônia, a Inglaterra e a França
aceitaram finalmente o ônus de uma guerra mundial contra o pacto
germano-soviético; agora, depois da vitória sobre o nazi-comunismo,
entregava-se a Polônia inteira ao comunismo que também foi vencido, e que só
comparece entre os vencedores no quinto ato da comédia de erros, graças a um
aberrante solecismo histórico, que nem sequer podemos imputar à habilidade e à
astúcia do principal beneficiário. A impressão de uma direção invisível nessa
comédia de erros impõe-se irresistivelmente.
Eu ouvia
os foguetes. Milhares de bons cidadãos, de excelentes pais de família, de
fidelíssimos antinazistas, abraçavam-se, congratulavam-se uns com os outros,
convencidos de que finalmente as 'democracias" alcançavam a vitória. E eu
perguntava: que vitória?
Terminada
a guerra, voltávamos à rotina da vida. E nosso grupo dia a dia aumentava com
famílias inteiras que chegavam, e de amizades que se multiplicavam na proporção
de combinações de objetos 2 a
2, sem jamais nos passar pela idéia a mais tênue suspeita de que, dentro de uns
poucos anos, um furacão passaria sobre o mundo com devastação maior do que a de
todas as guerras somadas, e então veríamos os padres abandonarem as batinas, as
freiras esquecerem os votos e os medos, e os bispos se transformarem em
diretores, secretários, presidentes e vice-presidentes de uma organização
burocrática incumbida de publicar falsas notícias e de difundir doutrinas e
esperanças ainda mais falsas. Mas não antecipemos.
Uma
noite, creio que em 1948, estava eu a ouvir um disco de Mozart quando alguém
bateu à porta. Era Fernando Carneiro, o inimitável Fernando Carneiro que
chegava sempre com ar de quem, entre uma corrida e outra corrida, quase digo
entre um e outro vôo, precisava pousar e transmitir alguma coisa que escrevera
sobre política imigratória ou sobre a pena de morte. Ele precisava
angustiosamente de quem o ouvisse, e ficava nervoso, irritado,
pronto a voar se percebesse o mais leve sinal de impaciência ou desinteresse.
Bom Fernando Carneiro. Passou pela vida como um original, quase como um louco,
sendo entretanto um homem cheio de sabedoria e de bondade. Guardo como jóias os
poucos conselhos que me deu nos ângulos da vida.
Em
matéria de doutrina social tínhamos divergências porque Carneiro estendeu o
mais que pôde seu crédito às esquerdas. Eu, que já havia pago meu pedágio à
estupidez humana nessa matéria, não sentia a menor disposição de "voltar
ao vômito", mas estávamos todos longe de supor, de pressentir o que ainda
deveríamos sofrer nesse capítulo.
Naquela
noite, Carneiro pediu água, e no meio da sala, com o copo na mão e o lenço na
outra, parecia um mágico que se preparava para tirar coelhos do lenço ou do
copo. Em vez de coelho, tirou o Padre Lebret.
—
Você já ouviu falar no Padre Lebret?
Eu não
ouvira falar, e Carneiro continuou:
— Olhe, o negócio é assim: Aristóteles, Santo
Tomás, Lebret.
Fiquei
meio alarmado, mas não pestanejei. E Carneiro explicou-me quem era esse frade
dominicano que se dedicara a levantamentos sociológicos entre os pescadores da
França, que fundara um movimento chamado "Economia e Humanismo" e que
agora viera estudar o Brasil...
Naquele
tempo poderíamos saber, se estivéssemos acompanhando de perto a evolução da
esquerda católica e da infiltração comunista na ordem dominicana, se
conhecêssemos a história da revista Sept, "que morrera de gripe
espanhola" mas logo ressuscitara em Temps Présent ,
revista apresentada por Mauriac e outros como sendo totalmente diversa de Sept
(condenada por Pio VI), et cependant da mesma cepa, se conhecêssemos as
escapadas de Maritain na revista Vendredi, poderíamos saber que o Pe.
Joseph Lebret em 1948 trazia ao Brasil os primeiros germes do "ativismo
desesperado" de que nos ocuparemos no último capitulo deste livro, ou os
primeiros vírus do esquerdismo católico que vinte anos depois produziria o
escândalo dos dominicanos que em
São Paulo transformaram o Convento das Perdizes em reduto de
guerrilheiros.
Mas não
antecipemos. O fato de ser dominicano o personagem que cativara Fernando
Carneiro tranqüilizava-me. Lembro-me da primeira vez que vi e ouvi Frei Pedro
Secondi. Falava de algum problema social, muito carrément, sem
precauções e meias-palavras. E, notando talvez sombra de receio ou escândalo no
semblante de alguma senhora, explicou-se: "— Nós, dominicains,
podemos pisar todos os terrenos sem medo, porque temos pés firmes e boa
doutrina". E, para ilustrar a sentença, andou com passo forte em cima do
estrado, de um lado para outro, e eu, maravilhado, ouvia as tábuas do estrado
rangerem debaixo da corpulenta ortodoxia do frade dominicano.
Com
ternura ainda mais viva (e hoje indizivelmente machucada) lembro-me como se
tosse hoje daquela tarde, na Praça Quinze, creio em 41 ou 42. Chegavam de
França os moços da AUC que tinham escolhido o hábito branco de São Domingos, os
mais numerosos já estavam vestidos de preto no Mosteiro de São Bento, ou para
lá se encaminhavam. Creio que era a primeira vez que eu via um dominicano, ou
pelo menos um dominicano em
flor. Quem naquela tarde viria ao Centro Dom Vital dizer
alguma coisa de seus projetos e de suas esperanças no Brasil era Frei Romeu
Dale. Sentei-me no fundo da sala, onde convinha que se apertasse a arraia-miúda
dos novatos e dos ignorantes, e fiquei ansioso a esperar o lírio vivo e branco
que nascera do coração de Domenico de Guzman; e quando, na frente do Alceu,
entrou um moço alto, corado, com riso de criança, eu o acompanhei com os olhos
e com o coração tomado de veneração apenas um pouco menor do que se visse
surgir no salão o próprio Santo Tomás de Aquino. No estrado, ladeado pelo Alceu,
que exultava como um pai feliz, Frei Romeu Dale falou da França, disse que
tencionava dar um curso de teologia moral segundo Santo Tomás. E no decorrer da
palestra, não sei por que, falou de Gilberto Freyre, e lamentou que
"aquela grande inteligência tivesse resvalado para o socialismo".
Alceu sorria deslumbrado. E eu fixava, guardava no coração, como um tesouro, a
figura do frade, a veste, as palavras que nos prometiam a Ia. IIae
do Doutor Angélico...
Outro
dia, vendo a majestosa cabeça grisalha de Gilberto Freyre a circo metros de
distância, no Conselho Federal de Cultura, lembrei-me de sua profissão de Fé,
no elevador, quando alguém lhe perguntou em que é que afinal ele acreditava.
Franzindo o rosto severo, apontou o teto do elevador e foi conciso: — "Em
Deus, ora essa! Em Deus, em Deus".
Houve no
ar uma corrente invisível de afeição, e vi que ele voltava-se para mim e me
sorria. E eu então senti-me transportado não sei aonde, para um céu deste mundo
ou do outro. E na cena maravilhosa que sonhei, num relâmpago de imaginação,
vi-me outra vez sentado no fundo da sala, nos últimos lugares, à espera de um
Gilberto Freyre anunciando por um Alceu de sonho ou de delírio. Entrava
Gilberto em seus 70 anos em flor, e eu, encolhendo-me nos meus 73, vi-o subir o
estrado onde, ladeado pelo Alceu, dizia com austeridade: — "Em Deus! Ora essa, em Deus!" E
depois de um preâmbulo abria os braços e lamentava que a mocidade de Frei Romeu
tivesse resvalado para o "progressismo" comunizante.
Dias
depois do anúncio de Fernando Carneiro (voltamos a 48) assisti a uma
conferência do Pe. Lebret. Não disse a ninguém minhas reservas e minha
preocupação. O frade falava com voz grave, contida, que forçava a admiração e
revelava um ardor interno. Descrevia as favelas que visitara, e com muita
firmeza e decência exprimia a dor que sentira; "J'ai pleuré".
A sala da ABI estava cheia, Hélio Beltrão sentara-se aos pés tio frade, no
estrado, e quando o pregador estendia o braço com um dedo acusador, eu
apreciava o quadro vivo e me lembrava de estampa igual em que Eça de Queiroz
descreve a manta universitária de Antero de Quental, que caía nos degraus da
escalaria com pregas de imagem. No outro lado da sala, Carneiro enxugava a
testa e não despregava os olhos do pregador. Todo o mundo conhecido. Naquele
tempo todos nós sabíamos que era preciso enfrentar a questão social, que era
imperativo levar o testemunho cristão aos menos favorecidos. Repetia-se muito a
frase de Pio XI ao Pe. Cardijn, fundador da JOC: "O maior escândalo do
século foi a perda da classe operária...".
À
esquerda, no grupo da Ação Católica, estavam moças conhecidas, Yolanda, Maria
Augusta, Nair Cruz. No momento preciso em que o Pe. Lebret com mão reprovadora
afastava o "paternalismo" de certas instituições assistenciais da
Ação Católica, Maria Augusta olhou em redor, e num décimo de segundo nossos
olhos se cruzaram e eu vi que Maria Augusta estava feliz. A proscrição do
"paternalismo", em nome da verdadeira ação social de baixo para cima,
nos unira nesse décimo de segundo. E eu imaginei que todos os conhecidos
estavam felizes de se sentirem ali acampados diante de uma certeza, e imersos
num confortável consabido. Mas logo doeu-me alguma juntura da alma quando
ponderei a curiosa força de congregar que têm as palavras muito repetidas. No
fundo de todos nós há esse insaciável apetite de ver o que os outros vêem, de
sentir o que os outros sentem, de saber o que os outros sabem e de atribuir às
palavras o mesmo espectro de conotações e ressonâncias que os outros atribuem.
Não agüentamos ver sozinhos, sentir, ouvir, saber sozinhos. Já escrevera a
minha A Descoberta do Outro, e achei-me a pensar: o céu deve ser assim, um
grande, um resplandecente consabido com o Carneiro de olhos pregados num
Orador, e a Maria Augusta a olhar em volta como quem quer transmitir aos outros
a alegria que de outro recebeu. Disse com meus botões: o céu são os outros. E
senti de repente uma dor muito aguda como a de quem quase acertou, quase
atingiu o alvo, mas ficou suspenso num acorde de sétima. Mais tarde um perverso
intelectual dirá. "l'enfer c'est les autres". A dor aguda que
sentia vinha da descoberta do ridículo daquele céu improvisado na ABI. Imaginei
como seria fácil colocar ali outro frade a dizer outra coisa e a transmitir a
mesma morna contigüidade das almas que só querem viver encostadas. Tive uma
vertigem de pensar na relatividade das coisas que os homens vivem dizendo, e
saí triste com minha pobreza. Foi só na rua que me corrigi, não, o céu é Deus.
No salão da ABI éramos nós rodos que, numa projeção convergente de
subjetividades, modelávamos o pregador. O céu de Deus há de ser, ao contrário,
uma verdade que se impõe fortiter et suaviter e que nos segura, como um
pai segura a mão do filho.
A
conclusão a que cheguei, com todas essas considerações vertiginosas, foi esta:
o padre não me convencera de coisa alguma que transcendesse o sincronismo das
mentes atualizadas. Guardei minhas reservas sem deixar de reconhecer a verdade
dos temas, no seu plano próprio, e a força de comunicação do pregador. Certamente
não fora para esse tipo de atividade que o mesmo Pe. Lebret anos atrás
resolvera deixar o século para ingressar na Ordem dos Pregadores fundada por
Domingos de Guzmán que se disciplinava, rugindo de dor e de amor pela salvação
das almas.
Dias
depois, Fábio Alves Ribeiro e eu conversávamos, e começávamos a achar que o
movimento do Pe. Lebret não rimava com o que estudáramos em Santo Tomás , em
Garrigou-Lagrange, e no próprio Maritain que, nesse tempo, já escrevera Humanismo
Integral. Comentamos que o dominicano francês falava demais em efficacité,
coisa que também não rimava com o que procurávamos no Mosteiro.
Abreviemos.
Uma tarde fomos todos com o Padre Lebret ao Mosteiro. Guardei bem a cena porque
eu ia atrás e podia observar bem as várias configurações que tomava o grupo, e
ouvir o que diziam sem necessidade de intervir ou apartear. Na frente, ao lado
de Dom Abade curvado e afável, a carrure robusta do dominicano de rosto
quadrado, duro e resoluto. Dois monges esticavam o pescoço para o gosto de
ouvir falar francês, e Murilo Mendes, desembaraçado e afoito, quis em certo
momento dizer uma frase definitiva. E lançou: "O comunismo é chato por não
ter o senso da poesia". E então eu vi, com estes mesmos olhos mais moços,
uma cena inesquecível. O Pe. Lebret voltou-se como se o tivessem picado, e com
dois olhos azuis implacáveis pregados no rosto de Murilo retorquiu: "C'est
vous que n'avez rien compris du communisme". Os monges sorriram. O
abade sorriu. Ninguém sabia o que fazer dos braços e do rosto. Murilo meteu a
viola no saco. Felizmente terminava ali o corredor e uma porta envidraçada
produziu um torvelinho de pequenas amabilidades que encerraram o episódio. A
visita ao Mosteiro prosseguiu, os pés inquietos e petulantes dos vivos
avançavam sobre as lápides tumulares do claustro, a vida continuava por cima
dos mortos, mas eu sentia-me paralisado, imobilizado, e quando dei acordo de
mim ouvi-me dizer aos meus botões:
—"Esse
frade é um comunista que se ignora". E tive a impressão, ou a ilusão de
que um dos botões retrucava:
—
“Que se ignora?. . . "
Mais
tarde soube pelo Fábio, de nós todos o mais informado, que o movimento de
Economia e Humanismo fora fundado pelo Pe. Lebret e outro dominicano, o Pe.
Desroches, que já deixara o hábito e se tornara resolutamente marxista. O Pe.
Lebret morreu dentro da Igreja e da Ordem, e até disseram publicamente que foi
ele o inspirador da Populorum Progressio.
Naquele
tempo não se comentavam tais coisas em nosso grupo, e pouco sabíamos do que já
era efervescência e quase explosão na Europa. Recalquei minhas impressões, e
reconheci que nada do que ouvira do Pe. Lebret se enquadrava mal na doutrina
sagrada. O que eu poderia dizer, se naquele tempo usássemos tal vocabulário, é
que sua pregação era secularizante. Punha o centro de gravidade da vida nas
coisas temporais. Aonde nos levaria, com o tempo, o interesse despertado e
difundido pelo Pe. Lebret?
Andava no
ar desse tempo um ativismo que nos concítava a levar, não apenas nossos deveres
de cidadão, mas também nosso testemunho cristão, a um engajamento maior e mais
direto no. luta por uma ordem temporal mais justa. Por um mundo mais cristão,
para inclusive poder ser mais humano. A obra de filosofia política e cultural
de Maritain nos despertava para um dever de participação mais consciente e se
inseria em nossa aversão pela ditadura de Vargas. De Charles Journet
recebêramos a frase "uma nova cristandade quer nascer", que
acolhêramos com otimismo e confiança. Não sei quantas vezes terei eu dito a
meus alunos e companheiros essa frase que não sabia inserida, e às vezes
comprometida num contexto cultural liderado pelas esquerdas e já envenenado
pela infiltração da praxis marxista que desde a década dos 30 se espalhava pela
Europa, e mais intensamente na França.
A vida
continuava, e o pobre engenheiro, que em Jacarepaguá vivera quase como um
anacoreta, mal conhecendo uma pessoa a mais por ano, e até chegara ao requinte
de esquecer um dia o nome do Presidente da República, achava-se agora em pleno turmoil:
aulas, aulas, aulas, estudo, estudo, estudo, conferência, conferência,
conferência, campanhas eleitorais, filha, filha, filha, e às tardes, no Centro
Dom Vital, o mais despreparado dos homens recebia pessoas, pessoas, pessoas
e aos borbotões, famílias inteiras.
Na década
dos 50, contra meus mais consolidados costumes, aventurei-me a viajar pelo
Brasil e a fazer conferências sobre as coisas do Reino de Deus. Lembro-me de
uma viagem nossa a Belo Horizonte onde, com surpresa, vimos que os estudantes
tinham colocado faixas pelas ruas, e espalhado camionetas pela cidade a
anunciar as conferências do autor destas linhas. Toda a Juventude Católica
estava conosco nesse tempo e não se percebia um só sinal de comunismo entre os
moços. Perdão, havia o Luís Carlos. Foi uma maratona de conferências,
entrevistas e conversas em círculo, sem interrupção. Creio que em 2 ou 3 dias
fizemos mais de 12 conferências, às vezes com 400 ouvintes, moços
universitários. Não começara a infiltração de estupidez. Os moços eram ainda
adjetivamente moços, e não substantivamente e magicamente "jovens". O
comunismo ainda não começara... Perdão, havia o Luís Carlos. Sim, o Luís
Carlos. No segundo dia de batalha, ao meio-dia e trinta, consegui fugir dos
moços, e já me esgueirava para chegar ao hotel, onde contava descansar um pouco
e almoçar, quando senti travarem-me o braço. Era o Luís Carlos, que se
apresentava e queria dizer-me uma palavra. Conversamos horas: ele tinha idéias
comunistas, mas já desconfiava de seu quilate; queria mais. No dia do Corpo de
Deus, numa grande festa em que mais de quinhentos moços confessaram e
comungaram, lá estava o Luís Carlos, humilde e feliz. Meses depois recebi no
Rio uma carta dos pais de Luís Carlos, e num farrapo de papel um agradecimento
escrito a lápis e uma despedida marcando encontro no céu.
Agora
noto que errei na cronologia. Foi numa segunda visita a Belo Horizonte que
encontrei o Luís Carlos. Tudo mais está certo. Nessa segunda visita em que fora
convidado para pregar a preparação para a festa do Corpo de Deus, da JUC de
Belo Horizonte, escolhera o tema: "Os sinais de Deus". A sala estava
repleta e na primeira fila, entre dúzias de batinas estava o Pe. Francisco
Lage. Acompanhava-me por toda parte e sempre que vinha ao Rio almoçava ou
jantava conosco. Foi ele quem deu os dois primeiros missais de minhas duas
primeiras filhas do segundo casamento. Tenho cartas afetuosíssimas dele. Em Belo Horizonte ,
sentado na primeira fila, acompanhava minhas conferências sem mover um músculo
da face, mas às vezes, quando lhe parecia melhor alguma conexão teológica (que
é o próprio da teologia) ou alguma imagem inopinada, que era a parte de meu
ofício ele sorria apertando os olhos como gato afagado e feliz. E saíamos
juntos conversando sobre Sacramentos e sacramentais. . .
Muitos
moços que voltavam à vida religiosa me pediam que lhes indicasse um padre, e eu
indicava o Pe. Lage.
Passavam-se
os dias. Os anos. Uma noite bate-me à porta o Antônio Pimenta, que chegava de
Belo Horizonte "para acertar os ponteiros".
Era um
dos vários que formavam, em Ferros, um grupo de estudo em torno do Pe. Lage.
Soube que o Pe. Lage havia fundado um núcleo de Economia e Humanismo, e agora
tinha diante de mim o Antônio Pimenta e a evidência fulgurante: o Pe. Lage
estava ensinando marxismo aos moços que o haviam procurado para perseverarem no
cristianismo.
Conto
estas coisas porque esse Pe. Lage é hoje figura internacional. Há livros em
francês mentindo sobre o Pe. Francisco Lage Pessoa, corno mentem sobre Dom
Hélder Câmara. E o que eu quero dizer, em poucas linhas, é que convivi, e dia a
dia acompanhei a evolução desses padres que trocaram a Comunhão dos Santos pelo
Partido Comunista. E assim como esses, vi de perto muitas e muitas outras
degradações que julgava impossíveis. Começava para nós a Paixão da Igreja,
segundo o século XX.
Foi em
1956 que percebi que a Ordem Dominicana, no Brasil, e certamente no mundo,
estava em processo de erosão; e que, naquela tarde de anos atrás, eu poderia
ter dito a Fr. Pedro Secondi, com apoio em São Paulo : "Quem está de pé, olhe bem que
não caia" (1 Cor. 10,12).
Naquele
dia de 56 os soviéticos tinham esmagado a Hungria. De manhã, meu filho me chama
por telefone, do Itamarati, e só pergunta: — Pai, não vamos fazer nada?
Combinamos um encontro à tarde para uma manifestação pública de protesto, e fui
com Gladstone Chaves de Melo ao Convento Dominicano combinar não sei o que com
Fr. Romeu Dale. "Pai, não vamos fazer nada?" Chamamos Fr. Romeu, que
afavelmente nos conduziu à biblioteca, onde nos sentamos e eu logo desabafei
meu horror pelo que estava acontecendo na Hungria. Desabafei veemente e
ingenuamente. Mas, de repente, parei assombrado: diante de mim um pseudo-Fr.
Romeu, ou o verdadeiro Fr. Romeu, com um sorriso ao canto da boca começava a
dizer: — "Também os ingleses em Suez..."
Explodi.
Dei um soco na mesa, não tão forte como o daria Santo Tomás, e grifei sem poder
conter-me:
— Padre!
Era aqui o último lugar do mundo onde imaginava ouvir tal coisa.
Gritei
outras coisas de que não me lembro. À porta acotovelavam-se frades que vinham
ver o que acontecera. E eu, caído em mim, pedi desculpas a Fr. Romeu e saímos
do Convento. Na rua, não disse nada: sentia a terra fugir-me embaixo dos pés, e
adivinhava que nunca mais me sentaria naquela casa onde tantas vezes
parecera-me ver passar, trazidas pelos anjos, as figuras de Domingos, Tomás,
Catarina de Sena... e tantos outros. Tempos depois o Pe. Lage dava à revista
Manchete uma entrevista em que falava de cristianismo social e dizia que “essa
história de ministrar sacramentos não tem futuro". Os estudantes católicos
já não me convidam. Em três ou quatro anos, sem nenhuma modificação minha, fui
chamado de "inimigo no. 2 dos estudantes", e dois ou três daqueles
mesmos que me tinham por padrinho naquela festa do Corpo de Deus escreveram artigos
em que eu era "múmia" ou "tinha morrido, mas esquecera-me de
deitar-me no caixão".
Começa a
violenta infiltração no meio estudantil.Eu vi essa infiltração como quem vê uma
mosca caída no leite. E vi como se degradam os moços, como se violam as almas,
como se envenenam os corações. Esse espetáculo da comunização de católicos é
certamente o mais feio e deprimente feito que nosso século obscenamente exibe.
Surge a
UNE, o "Metropolitano", e quando já se patinhava numa nova espécie de
lama espiritual, desembarca no Rio o Pe. Cardonnei, dominicano francês, que
logo se põe em contato com os estudantes da UNE e com os futuros dirigentes de
VOZES. Em julho de 1960 começa a falar e a dizer tolices. Nesse tempo nós já
éramos veteranos e já sabíamos que alguma coisa acontecera na Igreja e
especialmente na Ordem dos Pregadores. Para nós, Fr. Cardonnei teve o mérito de
ser o primeiro a nos trazer amostras de um fenômeno que brevemente tomaria
proporções diluvianas. Eis aqui um tópico da autoria de Fr. Cardonnel,
registrado e comentado em artigo nosso no Diário de Notícias de 31-07-60 com o
título "Sinais dos tempos": "É preciso — dizia Fr. Cardonnel —
que desconfiemos do que chamarei de fuga abstrativa. Por exemplo, falemos de
homens, em sua situação concreta, e não da pessoa humana com sua eminente
dignidade. O valor abstrato que possamos destacar dos homens reais é
indiferente àquilo que eles são de fato. Em que consiste o direito da Família,
pelo qual se pergunta freqüentemente? A família é uma abstração e ela não
existe enquanto tal...". E por aí afora galopava Fr. Cardonnel no ano 60
para admiração dos jovens da UNE e do Metropolitano. Escrevi váríos artigos Os
Dois Mundos (11-09-60), Ainda os Dois Mundos (18-09-60) e mais tarde
(25-06-51), sobre um manifesto da PUC, escrevi O Anti-anticomunismo. E em
(28-08-60) em Carta
Aberta a um estudante de Belo Horizonte, que aconselhava a
aposentadoria para os intelectuais, aconselhava eu exame vestibular aos
colunistas.
Começava
a luta fastidiosa que dura até hoje. Avolumava-se dia a dia a infiltração
comunista no meio estudantil-católico, como se houvesse uma organização para
ativar os agentes e outro para amolecer os pacientes. Frei Cardonnel foi um
pombo correio que se adiantou demais e chegou antes dos outros, Porque nesse
tempo ainda existiam bispos, e o episcopado brasileiro não fora ainda metido
dentro do liquidificador das conferências, e por isso pude ainda ver, creio que
pela última vez, funcionar a autoridade episcopal. O trêfego Cardonnel foi
reexportado para a França, onde oito anos mais tarde, graças à maré montante de
imbecilidade que invadiu a França, alcançaram enorme sucesso suas blasfêmias e
suas asneiras, mas quem foi suspenso de ordens foi o Abbé de Nantes.
Começava
o tempo da Paixão. Foi nessa época que procurei o Cardeal D. Jaime Câmara, pela
primeira vez, para sugerir, suplicar, demonstrar a necessidade de fechar a JUC
com a idéia de reabri-Ia mais tarde, depois de purgada. Dom fez-me uma série de
ponderações onde as palavras "prudência”, "caridade" e todas as
outras do léxico cristão pareciam-me colocadas num painel de equívocos. E
confiou-me D. Jaime que estava pensando em designar um bispo para o especial
cuidado da juventude. Dias depois saía no jornal a nomeação de Dom Cândido
Padim, que vinha preencher uma lacuna na coleção de equívocos eclesiásticos.
Fiquei apavorado, sobretudo quando vi na fotografia e na declaração publicada
no jornal que D. Padim estava otimista! Mais tarde soube que Gladstone Chaves
de Melo tivera conversa semelhante e igualmente inútil com o Cardeal.
Em
novembro de 1963, Alceu Amoroso Lima, Presidente do Centro Dom Vital, de
regresso de longa permanência no estrangeiro, escreve numa página inteira do
Jornal do Brasil uma "encíclica" intitulada A Igreja, O Socialismo
e o Comunismo, para demonstrar que a Igreja, de Gregório XVI a João XXIII,
em relação ao socialismo e ao comunismo evoluíra da "rígida
intolerância" para o "entendimento esclarecido" e finalmente
para o "diálogo", e para a colaboração. Já mostrei em Dois Amores , Duas
Cidades (páginas 376 e 381) que o suposto diálogo de João XXIII não tem nenhum
fundamento, e que o “entendimento esclarecido" de Pio XI baseou-se num
texto da Quadragesimo Anno em que o jornalista interpela nas palavras do
Papa duas palavras de sua invenção, em negrito, com as quais a frase do Papa
muda de sentido. Remeto o leitor à obra e página acima citadas, onde se vê que
no tópico 43 (in fine), o Papa diz: "Maior condenação ainda..." e o
jornalista acrescenta e frisa "do que o comunismo", alterando o
sentido do tópico.
Resolvi
desligar-me do Centro Dom Vital, onde durante 15 anos militara. Escrevi ao
Presidente do Centro uma carta queixando-me da plástica que tão
desembaraçadamente fazia nos textos pontifícios, e dos novos rumos que tomava
sua pregação. Respondeu-me afavelmente, insistindo que permanecêssemos juntos,
cada um com suas idéias. Procurei o Cardeal e participei-lhe minha decisão de
deixar um Instituto onde cada um dos dirigentes ficaria e ensinaria segundo
suas idéias, e assim a única lição comum que transmitiriam era a do desprezo
pela verdade e pela exatidão da Sagrada Doutrina.
Quando
terminei minha exposição, o Cardeal pôs a mão no meu braço e disse-me: —
"Não. Quem deve sair é o outro". Respondi-lhe que isto estava fora de
minha alçada. O que eu queria, e aceitaria no mesmo local, era uma sala onde
pudesse continuar as aulas que até hoje ministro ao mesmo grupo acrescido dos
filhos que nasceram e cresceram. Pediu-me então o Cardeal que lhe indicasse
três nomes de pessoas de confiança e boa doutrina. Dei-lhe os nomes: Fábio
Alves Ribeiro, Oswaldo Tavares e Eduardo Borgerth. E o Cardeal acrescentou: — E
o senhor afaste-se para que ninguém possa dizer que está disputando a
presidência do Centro.
Despedi-me
do Cardeal que me acompanhou até a porta, prometendo comunicar-me o que
resolvesse. Passaram-se dias sem novidades e nosso grupo já procurava uma sala
para nossas aulas quando fui avisado pelos três amigos que o Cardeal os
convocara e combinara com eles um plano a partir de uma carta que aquele mesmo
dia enviaria ao Dr. Alceu Amorosa Lima pedindo-lhe a renúncia do cargo. No dia
seguinte, com grande espanto vejo estampada no Jornal do Brasil a notícia de um
conjuração tramada no Centro Dom Vital contra o professor Alceu Amoroso Lima às
vésperas de seus setenta anos.
Mais
tarde tivemos a explicação desse falso "furo" do jornal: D. Jaime
Câmara escrevera efetivamente a carta combinada, mas, para magoar menos o Dr.
Alceu, como depois nos disse, começou-a nestes termos: "Fui procurado por
um grupo do Centro Dom Vital..." E na continuação pedia-lhe que
renunciasse ao cargo de Presidente. Além disso, e também para agradar ao Dr.
Alceu, teve a idéia de enviar a carta por Dom Hélder Câmara. O resultado de
todas essas precauções foi o que se viu: a carta foi parar no Jornal do Brasil,
o Dr. Alceu respondeu respeitosamente que entregaria o cargo se fosse demitido,
mas não se sentia em consciência obrigado a renunciar. O Cardeal recuou, e tudo
ficou como se efetivamente a "conjuração" gorada tivesse partido
daquelas pessoas... Nesse tempo, em que o Concílio absorvia a atenção dos
Bispos, nosso Cardeal esqueceu o Centro Dom Vital, que se esvaziava porque a
maioria dos sócios e freqüentadores não concordavam com as novas idéias do
Presidente, e a revista A Ordem morreu.
E com ela
morreu a obra de Jackson de Figueiredo, e inutilizou-se a doação generosa do
Dr. Guilherme Guinle. Começava para a Igreja um período de
"aberturas" com a esquisita conseqüência de fecharem-se seminários,
ordens religiosas, conventos e colégios religiosos. Muito mais tarde, em 68,
abrimos nós o movimento PERMANÊNCIA com o grupo de amigos que há mais de vinte
anos nos seguiam no Centro Dom Vital, e com os assinantes que choveram de todo
o Brasil.
O SÉCULO DO NADA - Introdução — 2ª Parte
O episódio
do Centro Dom Vital, que só se esclarecerá no dia do Juízo, desviou-nos da
história que vínhamos contando — a história da infiltração no Brasil que
colocou os comunistas no poder até o inacreditável desenlace, em 1964. Já
contei essa história mais de uma vez com o título de Lembrança de um Pesadelo e de um Milagre, e não resisto ao prazer
de inseri-la nesta Introdução, que já ameaça tomar o livro todo. Ei-la:
O homem,
como tão expressivamente disse Chesterton, é um curioso monstro que anda
impetuosamente para o futuro com os olhos voltados para o passado. Conhece-se o
teor de uma civilização pelo gosto e pela atenção com que se pondera o passado,
com que se registram os fatos e feitos, com que se demarca com pedras — como na
história de João e Maria — o caminho percorrido, como se esse trajeto fosse
também um caminho de volta. Ao contrário, aquilata-se a gravidade de uma crise
civilizacional (como que atravessamos no mundo inteiro) pelo desprezo ou pela
violência com que os novos querem romper com o passado. Esta é uma atitude de
bárbaro ou de desesperado — em qualquer hipótese uma atitude infra-humana.
Romper
com o passado é, numa linha horizontal e freudiana, desejar a morte do pai; e,
numa linha vertical e teológica, desejar a morte de Deus. Numa outra
perspectiva, que inclui os dois vetores na mesma humana peregrinação, romper
com o passado é romper com o humano.
Todos nós
desejamos ardentemente um mundo melhor, libertado de certas taras, de tantos
erros às vezes acumulados, renovado pelo aperfeiçoamento moral dos homens;
todos nós sabemos que o homem é essencialmente progressivo, e que quem não
progride regride, já que a imobilização dos passos é impossível neste restless Universe; mas também sabemos
que só progride o que permanece, só avança na direção de um real progresso quem
tem o olhar volvido para os grandes feitos e os grandes compromissos da
humanidade. E é com esta convicção que orientamos aqui o nosso retrovisor para
um passado recente e especialmente para os dias de março de 1964 em que se decidiu,
milagrosamente a meu ver, a sorte do Brasil.
É
instrutivo reanimar a memória para aqueles dias sinistros em que parecia
vivermos um pesadelo. Depois de anos de demagogia populista e de estatizações
catastróficas, o Brasil chegou ao período Kubitschek em que a pátria parecia
transformada num carro carnavalesco. Perpetrou-se o erro gravíssimo da
construção de Brasília, que arruinou o Brasil e até hoje impede o estancamento
da inflação. Falsificaram-se metas com preferência dada aos gastos inúteis em prejuízo
das coisas úteis e urgentes. Pouca gente sabe que o acréscimo percentual de
potência elétrica instalada, mesmo favorecido com os trezentos e cinqüenta mil
kilowatts da estação de Itapetininga (S. Paulo — Grupo Light), inteiramente
construída no governo anterior e simplesmente “inaugurada” pelo Presidente
Juscelino, foi a metade da cifra alcançada nos governos anteriores. Tudo isto
sem falar no clima de uma jocosa corrupção que fez de Brasília o nosso panamá —
com a diferença da sua perfeita superfluidade.
Segue-se
a este período de alegre irresponsabilidade o curto governo de um louco, que
não merece comentário. E estamos agora no sinistro período do Governo Goulart.
Agrava-se a inflação e o Presidente chama a si a organização da desordem. Como
todo ressentido, ou como todos os chamados homens de esquerda, João Goulart
imagina que a ofensa ao princípio de autoridade agrada aos pobres, o que seria
verdade se todos os pobres do Brasil já estivessem “conscientizados” pelo
famoso MEB das cartilhas de luta de classes. E, com esta idéia-mestra, Goulart
por seus ministros e pelegos, insuflou desordens, greves, insubordinações e
insolências. Os comunistas tomam posições-chaves, e no Ministério da Educação
se apoderam dos dinheiros públicos com espantosa facilidade: rapazes de vinte
anos passavam recibo de somas de milhões em farrapos de papel e levavam como
melhor título de recomendação a prova de pertencerem ao Partido Comunista. A
UNE conseguia do Congresso verbas de 3 bilhões, que valiam o que hoje valem 500
mil cruzeiros.
Caminhávamos
para o caos. O episódio da Faculdade Nacional de Filosofia é bem
característico: os terroristas do diretório recusam entrada ao paraninfo
eleito, o governador Carlos Lacerda. O Governo Federal mobiliza suas forças
para garantir a desordem. O paraninfo, o Reitor e os demais professores são
desfeiteados. E nesta mesma tarde eu vi um bravo barbeiro a agitar sua navalha
e a perguntar ao céu, às árvores e ao vento:
— Como
pode? Como pode? Atirar alunos contra os professores é o mesmo que atirar filho
contra o pai...
Aceleram-se
os acontecimentos depois do comício na Central do Brasil, no dia 13 de março.
Lembro-me bem, e gostaria de que todos rememorassem aquela tarde sinistra.
Sentíamos uma ameaça pesada e próxima. Dir-se-ia que até no céu carregado se
viam prenúncios de desgraça. Estavam ali reunidos os possessos que desejavam
reduzir o Brasil a um presídio com oitenta milhões de detentos. Os rádios,
histericamente, transmitiam notícias, nomes, frases. Um matutino compusera sua
primeira manchete com o novo titular: O COMISSÁRIO DO POVO... O agrupamento
popular relativamente pouco numeroso, que cercava o palanque, procurava
compensar sua tenuidade com multiplicação de gritos e de gestos. Um padre (de
batina) pulava quase um metro de altura cada vez que seu sistema nervoso era
percorrido pelas descargas vindas dos slogans. E o povo? O povo, que a UNE
chamava de antipovo, olhava com medo e repugnância a desordem crescente. Greve
todos os dias. Naquela tarde sombria e lívida com contrastes de tempestade e
bonança, havia falta de luz. Racionamento da Light. (Esse racionamento da Light
em 1964 foi uma das obras das antimetas de Juscelino Kubitschek; em seu governo
a Light empreendera a construção da Usina de Ponte Coberta, que iria trazer mais
100.000 kW para o Rio. O empreendimento tinha financiamento estrangeiro, mas
precisava de uma aval do governo brasileiro e portanto de uma assinatura do
Presidente. Duas vezes teve a empresa de dispensar seus trabalhadores para
reatualizar os orçamentos, porque o Presidente Juscelino, com uma omissão
criminosa, deixava de assinar seu compromisso. Durante um ano andavam os homens
da empresa a procurar o Presidente, sem conseguir seu rabisco, que aliviaria
uma enorme construção e que traria luz e conforto a quatro milhões de
cariocas).
Em nosso
bairro as ruas estavam vazias, e nos rebordos das janelas víamos durante todo o
dia velas acesas em sinal de que naquele apartamento rezava-se pedindo a Deus
que não permitisse o assassinato do Brasil. Creio que foi nesta semana que um
colunista católico escreveu que as reformas anunciadas por Goulart coincidiam
com os ensinamentos de João XXIII!
Precipitam-se
os acontecimentos. Foi nesta última semana ou na anterior? Cada manhã, à saída
da missa, os amigos se entreolhavam com o ar de quem tem em casa um grande
doente. Evitávamos falar no assunto. Nesta manhã, porém, alguém perguntou:
—
Viram o que aconteceu ontem na Ilha do Fundão?
O
Presidente Goulart aprazara encontro com o Reitor, professores e estudantes.
Desceu de helicóptero, mas a meia altura mandou parar e começou a gritar:
—
Os estudantes para a frente! Os estudantes para a frente!
E a
manada de estudantes rompeu a socos e empurrões a fila dos professores. E nós,
ouvindo a história, sentíamos uma vergonha profunda, alternada com convulsões
de cólera perdida. Ah! que vontade de combater! “Ô rage, ô desespoir, ô vieillesse ennemie!”.
Cada
notícia era uma injúria; cada página de jornal, uma bofetada. E os nervos
tensos, e o coração sangrando... Não se via uma perspectiva, uma saída. A tênue
esperança que tínhamos era a de que o Exército se organizasse e seus chefes
soubessem sobrepor à mesquinha legalidade produzida pelo positivismo jurídico.
Saberiam? Poderiam? O fato é que o comunismo já se achava no Poder e já tinha a
seu favor a moleza de uma sociedade maltratada por tantos e tão maus governos.
Faltava-lhe um arremate de forma, mas contava com grande parte da imprensa, com
os “intelectuais”, com os estudantes e com padres e até arcebispos
“progressistas” que já ensaiavam a voz para a declaração:
—
Companheiros! Eu também sou comunista! Eu sempre fui comunista!
De onde
nos viria o socorro humano, a reação viável? Trouxeram-me um revólver. Que
faria eu com um revólver contra um bando de executores que me cercassem a casa
à noite? Aconselharam-me a mudar de posição a mesa de trabalho colocada diante
da janela. Cheguei a pegar na mesa, mas detive-me, prevendo que entraria num
espiral de precauções intoleráveis se admitisse a primeira. Aconselharam-me a mudar
de casa, mas o mesmo horror da organização do medo me tolheu. Sinceramente, a
um Brasil emporcalhado de marxismo, eu preferiria não sobreviver. Dias depois,
fui dar minha aula na Companhia Telefônica, na Avenida Presidente Vargas.
Quando cheguei ao local, vi-me cercado no carro por uns oito ou dez indivíduos
de má catadura.
—
O que vem fazer aqui?
—
Vim dar uma aula — respondi com uma repugnância infinita.
—
Somos o piquete da greve! Você não sabe que a CTB está em greve?
Senti
oscilar a razão sob a pressão da cólera explosiva. Tive medo e raiva de ter
medo. Consegui conter-me: engrenei o carro, baixei a cabeça para evitar algum
tiro, e entre gritos dos pelegos e freadas de carros entrei na roleta russa da
Avenida Presidente Vargas. No dia seguinte, li no jornal o que o mesmo piquete
de greve fizera com uma moça datilógrafa que ousara discutir com eles.
Despiram-na e deixaram-na nua junto de uma palmeira.
Os
possessos! Os possessos! Tínhamos a impressão de que o número deles crescia, ou
que se multiplicava a sua força. E pasmávamos diante da inexplicável
insensibilidade de alguns intelectuais e de muitos padres e bispos que não
sentiam o cheiro da substância que lhes entrava pelo nariz. Empoleirados a
rotular com louvores o hediondo fenômeno que os empurrava, esses intelectuais e
esses padres ousaram apontar no comuno-peleguismo, cruel e cafajeste, uma
realização da doutrina social da... Igreja.
Não
víamos saída, sobretudo quando comparávamos nossa situação à dos países
tombados sob o jugo do comunismo. Os processos se repetiam. “Vejam o caso da
Tchecoslováquia!”, dizia-nos um comentador de política internacional. Eu
acordava resmungando, não sei por que em francês: “sans issue... sans issue...”. Receávamos todos que nossas próprias
lições na Resistência Democrática se tornassem obstáculos mentais,
superstições, pontos de honra para os nossos melhores soldados: democracia,
vontade do povo, legalidade... receávamos que tudo isso recobrisse a noção
fundamental de bem comum e de lei natural e paralisasse as melhores
consciências.
De Minas
chegou a notícia consoladora de um comício pelego-comunista dissolvido por um
grupo de senhoras armadas com o terço. Mas a anarquia se precipitava. O grupo
de marinheiros rebeldes reunidos no Sindicato dos Metalúrgicos venceu a resistência
do próprio Governo. O Almirante Aragão voltou ao comando dos fuzileiros, e
nesta tarde o povo carioca teve de suportar o vexame da carnavalesca passeata
dos comandados do Cabo Anselmo na Avenida Rio Branco. De hora em hora
arrematava-se a chinificação do Brasil. O Clube Naval esboçou uma resistência
que obrigou o Presidente Goulart a voltar à ofensiva no tristemente famoso
discurso no Automóvel Clube. Nesta noite o Brasil chegou ao ponto mais baixo de
sua história. Um marinheiro rebelde, tomando a palavra, começou um discurso
bobo e convencional, e pela força do hábito deixou escapar a palavra
“disciplina”. Foi estrondosamente vaiado.
Naquela
manhã, à saída da missa, percebemos logo que a anormalidade chegara a um ponto
decisivo. Antes mesmo de ver os lençóis azuis, sentimos o ar de um dia
diferente. O que faziam ali aqueles rapazes de lenço azul e revólver na cinta?
Eram milicianos. O que é que se esperava? Um ataque ao palácio do Governador da
Guanabara.
Esboçavam-se
filas diante dos armazéns. A cidade inteira — adivinhávamos — se preparava e se
retesava. Caminhamos na direção do Palácio e encontramos amigos, homens
pacíficos, negociantes e professores, que se dirigiam também ao Palácio, com um
revólver surgido na cinta que jamais sonhara tamanha responsabilidade. O
brasileiro bom, o brasileiro sem jeito, modesto, caminhava mansamente e sem
ares de heroísmo para uma situação em que possivelmente teria de dar a vida.
Povo manso, povo bom, pensava eu, mas também povo bobo e sem jeito. O que iria
acontecer?
Numa
esquina ouvi uma conversa entre dois populares:
—
Parece que os tanques vão atacar o Palácio pela Rua Paissandu.
—
Não pode. Ô cara, você não sabe que é contramão?
Perto do
Palácio adensava-se a multidão, mas no meio dos homens canhestramente dispostos
a dar a vida pela Pátria passavam meninos de bicicleta e moças risonhas e
despreocupadas. Seria da mocidade, desta bateria nova e bem carregada, que eles
tiram energia? Não. O povo todo, observando melhor, ostentava uma graciosa e
leve coragem. Uma coragem humorística. E eu tive, de repente, a intuição viva e
fulgurante da vitória desse gênio brasileiro contra a substância que o
ameaçava.
Pouco
depois chegou a primeira onda de notícias surpreendentes: os tanques tinham
aderido ao Governador, as Forças Armadas dominavam a situação, João Goulart
fugira do Palácio das Laranjeiras, sem tempo de meter a fralda da camisa para
dentro das calças. Pouco depois confirmava-se a notícia, e o povo brasileiro
(com exceção dos intelectuais de esquerda e dos eclesiásticos paracomunistas)
ficou sabendo que Nossa Senhora ouvira nossas súplicas, que Deus nos salvara e
que o instrumento escolhido para este milagre fora o nosso bom soldado de
terra, mar e ar.
Dois dias
depois, em todas as cidades grandes do Brasil, o povo encheu as ruas com a
Marcha da Família — com Deus pela Liberdade. Eu e quatro amigos estivemos
perdidos, imersos na mais densa multidão que jamais víramos reunida. Ali estava
o que os intelectuais de esquerda chamavam de antipovo. Ali estava o sangue vivo
de nosso bom Brasil. E eu então senti-me possuído de uma enorme admiração por
este povo singular que acabava de vencer uma Copa do Mundo no combate ao
comunismo. Agradecendo a Deus os favores de exceção que de certo modo não
merecíamos, agradecia também os favores da natureza e das merecidas
conseqüências. Grande povo! “A Europa curvou-se ante o Brasil” nos dias de
Santos Dumont. Menino de quatro anos, cantei o pequeno hino de nossa projeção
internacional. Velho, às portas dos setenta, cantava outro hino e candidamente
prelibava a admiração universal diante da facilidade dançarina, graciosa,
dionisíaca, com que o povo brasileiro pôs a correr os comunistas. (Mal sabia,
na embriaguez de meu entusiasmo, que o mundo inteiro nos caluniaria. Os Estados
Unidos com base na superstição de sua liberal democracia, ou no seu
“democratismo”, e a Europa com base no esquerdismo que se apoderou dos meios de
comunicação).
Foi um
dos mais belos espetáculos que vi. E tenho pena dos corações alienados que não
tiveram a capacidade para acolher tão boa e tão bela alegria. Lembrei-me de uma
página de Léon Bloy. A França acabara de marcar a vitória do Marne. Os jornais
estavam encharcados de júbilo, de esperança, de triunfo. Mas Léon Bloy folheava
os jornais com cólera crescente, e depois com tristeza infinita. O que é que o
velho leão procurava nos cantos dos jornais? Lá está escrito em seu Diário : “Je cherche en vain le nom de Dieu”.
Ora, em
nossa grande Marcha — cuja fotografia está diante de mim — não houve menção de
um só nome dos tantos civis e militares que bem mereceram o aplauso do povo.
Havia um só nome: o nome de Deus.
O levante
militar de 1964 pôde expulsar dos postos de governo os comunistas, mas não pôde
fazer o mesmo nas ordens religiosas, onde a infiltração se agravou com a
cobertura dos bispos agora burocratizados ou motorizados na CNBB. Anos atrás D.
Jaime Câmara, e muitos outros bispos do Brasil clamaram contra o perigo
iminente e evidente da infiltração comunista, mas agora, ao sabor da chamada
era pós-conciliar, e da liquidificação da autoridade episcopal, tornou-se
ostensivo e agressivo o comunismo de padres desatinados, e tornaram-se
inevitáveis os atritos entre esse clero e o Governo. Um dos primeiros padres
presos foi o lazarista que deixamos páginas atrás a ensinar marxismo em Ferros,
perto de Belo Horizonte.
Mais
tarde foram presos dois padres assuncionistas franceses que ensinavam marxismo
e que pertenciam à Ação Popular. Voa de Paris o Pe. Guillemin, superior dos
assuncionistas que desde a primeira entrevista anunciou a nova-Igreja
pós-conciliar, disse uma dúzia de asneiras em torno desse tema, e voltou à
Europa para levar a queixa à Comissão de Justiça e Paz que nesse tempo já era o
que é e já estava preparada para repositório das reclamações esquerdistas. Mereci
desse Superior Assuncionista uma carta suavemente injuriosa, mas nunca tendo
conseguido ser colecionador de coisa alguma não guardei o autógrafo do
personagem. Nesse meio tempo chegou ao Brasil, com atraso de vinte anos, o
fenômeno Teilhard de Chardin. Escrevi em 1965 mais de dez artigos sobre essa
nova faceta do poliedro de estupidez que o mundo católico parecia empenhado em construir. O sucesso
editorial alcançado pelas obras de Teilhard de Chardin, que não têm nenhum
valor filosófico, teológico, literário ou científico, só é comparável à febre
de valorização de tulipas que grassou na Holanda do século XVII, ou à quase
idolatria do boi zebu que foi apaixonadamente praticada no Triângulo Mineiro há
mais de quarenta ou cinqüenta anos. Ponderando, no caso, a gravidade da matéria
tratada, podemos dizer que essa epidemia teilhardista foi certamente o mais
humilhante acontecimento do último milênio nos dois hemisférios deste honrado
planeta habitado. Não insisto no assunto porque já declina o fenômeno que brevemente
mergulhará no nadir de um esquecimento total e absoluto, e se misturará às
fantasias de Simão, o Mágico.
Menos
cômica do que a omegalização e a noogênese do infortunado jesuíta, foi a
degradação que se via na ordem dominicana. Convém lembrar que em 1968 as
esquerdas, vencidas e expulsas dos cargos, estavam levantando a cabeça. Vale a
pena ler o divertido livro de Charles Antoine publicado pela Desclée Brouwer em
1971 com este título: L’Eglise et le
Pouvoir au Brésil, e este subtítulo: Naissance
du Militarisme. No capítulo 4, o autor que é ou foi padre, começa com estas
palavras do mais límpido cinismo jamais impresso: “O ano de 1968 é
particularmente fértil em campanhas de opinião pública contra a ala avançada da
Igreja. A ofensiva se desenrola em três frentes: corrupção financeira dos
bispos, comunismo no clero e perversão sexual nos colégio católicos. Os
responsáveis dessas campanhas são respectivamente os meios conservadores, os
integristas católicos e os militares da linha dura”.
E mais
adiante o autor se entusiasma com a famosa passeata. Dom Castro Pinto e Pe.
Adamo se desdobram na promoção dessa passeata chamada dos “100.000” em que todos se
sentavam no chão quando o rapaz que a liderava — creio que se chamava Vladimir
Palmeira ou Coqueiro, não tenho certeza — declarava que estava cansado. “Sentar
no chão!” era a ordem; e padres, freiras e bispos sentavam-se no chão.
No auge
do entusiasmo o professor Cândido Mendes publica no Correio da Manhã, de 30 de
junho de 1968 um artigo: “Enfim, a Marcha!”, onde dizia no seu peculiar idioma:
“No
máximo a alternativa à baixa dos cassetetes ou à carga de cavalaria se
constituía na exasperação dos dispositivos de “derretência”, palavra que cada
vez mais assume o primeiro na logística do conflito contemporâneo”.
A
avalancha de perversidade e de estupidez se avoluma e se precipita sobre os
restos de uma civilização vacilante, sob disfarces e com apelidos de
“progresso” e “frutos maravilhosos” do Concílio Vaticano II, que se quis a si
mesmo mais “pastoral” do que definidor, dogmático e condenador de erros,
começando por emprestar o termo “pastoral” um significado de tolerância que
destoa não apenas da tradição mas de qualquer idéia de reger, conduzir e
governar. Se o Concílio tivesse sido realmente tão pastoral como euforicamente
prometiam seus padres, teria reservado espaçoso lugar para a denúncia de
mercenários e para os gritos de alarme contra os lobos. Ao contrário disto,
tivemos um Concílio otimista, e os resultados não tardaram.
A famosa
Constituição Pastoral sobre a Igreja e o Mundo Moderno, que um irreverente
chamaria Constituição Pastoral sobre a Igreja e o Mundo da Lua, “reconhece agradecida a ajuda variada que
recebe de parte dos homens de todas as classes e condições”. Que quererá
dizer isto? Que a Igreja agradece aos padeiros e vinhateiros, e que além disso
agradece ao mundo a afabilidade com que tolera sua presença e com que
proporciona serviços de água e esgoto a suas instituições? Em outra passagem
(21) a mesma Gaudium et Spes diz que
“a Igreja, embora repelindo de forma
absoluta o ateísmo, reconhece sinceramente (sic) que todos os homens, crentes e
descrentes, devem colaborar na edificação do mundo em que vivem em comum, e
isto requer necessariamente um prudente e sincero diálogo”. E assim se vê
que já se consideram peremptos os decretos de Pio XII e João XXIII que
severamente proibiam a colaboração dos católicos com os comunistas, como também
se vê que cai em desuso e esquecimento a definição do Concílio de Trento pela
qual “a Igreja na terra se chama de militante porque está em guerra constante
contra três cruéis inimigos: o mundo, o Diabo e a carne. Agora, em vez disso “somos testemunhas do nascimento de um novo
humanismo (!?) no qual o homem fica definido, principalmente, por sua
responsabilidade diante de seus irmãos e diante de...”.
Se anos
atrás entregássemos esse texto a alunos de catecismo elementar, com o claro por
preencher, todos imediatamente escreveriam: “Deus”.
Ora, não
é diante dos homens e de Deus que o “novo humanismo” deve ser principalmente
responsável: é “diante dos homens e da HISTÓRIA”!!!
Está claro que o realce é nosso. Nosso é o espanto, nosso é o estupor, nossa é
a preocupação. Frases como estas se diziam em discursos rotarianos, ou diante
das pirâmides do Egito, mas nós, católicos, raça humilde e altiva que não
reconhece outro senhor senão o Deus dos exércitos, sabemos que a história, com
minúscula ou maiúscula, tomada como curso dos acontecimentos ou como o registro
deles estudado pelos homens, pode ser julgada, mas não pode julgar coisa
nenhuma, e sabemos que não é diante do trono do século XX ou do século XXX que
prestaremos conta de nossos atos.
As
conseqüências de tais afrouxamentos de doutrina e de relação se traduzirão
rapidamente em afrouxamentos morais e disciplinares, e veremos espetáculos
espantosos nas casas de recolhimento e de oração. Em 1967, temos em Belo Horizonte e em São Paulo conventos
dominicanos e beneditinos que abrem suas portas a falsos estudantes da UNE sob
pretexto de retiro espiritual. Nesses dias escrevi: “Ia eu formular um apelo...
Mas, quando os religiosos chegam a mentir — e mentir descaradamente,
pretendendo que se enganaram, e que tomaram o ajuntamento de moços como um
desejo de retiro espiritual — todos os apelos se tornam inúteis e ingênuos demais”
(O Globo, 2 de julho de 1967).
Em 1968,
como se tornou manifesto ulteriormente, os guerrilheiros de Marighela tinham
quartel-general ou cabeça-de-ponte no Convento das Perdizes, em São Paulo. Quando as autoridades policiais
prenderam “frei Chico” (o prior) para prosseguimento do inquérito, todos os
padres e frades progressistas se moveram e organizaram uma passeata diante do
DOPS, em São Paulo ,
vestidos com os hábitos que já haviam desprezado. A CNBB pressionou o governo;
o Cardeal Rossi pressionou o governo do Estado, e depois a Presidência da
República.
Esses
senhores agiam em função de dois novos princípios, ou novos dogmas: 1°, sendo
dominicano, o preso não podia ser revolucionário, e muito menos comunista; 2°,
sendo militares as autoridades que promoveriam a diligência, ela era
evidentemente injusta. O provincial e o vice-provincial dominicanos, chacun avec sa chacune, já preparavam as
malas para deixar tudo, como ulteriormente efetivaram.
E é nessa
atmosfera de apostasias e de corrupção que os senhores bispos resolvem corrigir
as estruturas econômicas da América Latina e aprazam reunião na Colômbia, em
Medelin, onde, com base num manifesto marxista do padre belga José Comblin,
elaboram um documento inflado de auto-suficiência, mas absolutamente vazio de
qualquer saber sócio-econômico. O senso comum de nível mais elementar os
aconselharia a não discorrerem tão profundamente sobre matéria que tão mal
conhecem e que escapa a sua jurisdição, enquanto lavrava o incêndio nas
próprias dioceses abandonadas, e as almas eram devoradas. Sim, senhores bispos,
as almas que lhes foram confiadas se perdem! Ou não? Mas então, se a salvação
não é o mais importante dos affaires,
se não é para cooperar com Cristo crucificado que os padres e os bispos são
padres e bispos, então fica provada, à luz da “Gaudium et Spes” ou de outros tópicos conciliares que invoquem à
História, a perfeita inutilidade do esbanjamento do preciosíssimo Sangue.
Um ano
depois estoura o escândalo Marighela, e logo depois, como era de esperar,
surgem da Europa, de onde nos vêem as diretrizes e os agentes da corrupção,
denúncias contra arbitrariedades e perversidades praticadas pelo governo do
Brasil.
O
tenebroso nadir de todo esse amontoado de perversidade e estupidez é atingido
no dia em que todos os provinciais dominicanos franceses escrevem uma carta ao
Cardeal Leroy, presidente da Comissão de Justiça e Paz. Nessa carta
inimaginável os provinciais franceses, negando pura e simplesmente os fatos
atribuem as notícias à invencionice do governo brasileiro.
O que
terá acontecido na ordem dos dominicanos, perguntaria alguém que tivesse
cochilado, não cem ou duzentos anos como no apólogo do frade que se entretém
com o canto melodioso de um pássaro, mas apenas vinte.
Sim, o
que aconteceu entre a data do desembarque do Pe. Lebret no Brasil e o dia em que Marighela marcou
encontro fatal com dois comparsas duplamente traidores? Apenas isto: os erros,
os desvios produziram suas conseqüências. E alargaram-se: parvus error in initio magnus est in fine.
Recrudesce
em toda a América Latina a onda de assaltos e seqüestros. Praticam-se friamente
crimes espantosos. No aniversário de morte de Guevara é decidida nos
“tribunais” revolucionários a condenação à morte de um norte-americano
qualquer. É “justiçado” o oficial Chandler, quando saía de casa com seu filho
de onze anos.
Entusiasmado
com esses feitos praticados por jovens, o arcebispo de Olinda e Recife sai
voando e em Paris dá à revista L’Express
uma entrevista que fica registrada para vergonha do planeta Terra: ele aplaude
os seqüestradores assassinos. Pede bis. Escreve em livro que devemos abrir aos
jovens “crédito de ilimitada confiança”. E nós nos perdemos em monótonas
indagações: como se explica? O que aconteceu com o Concílio? Com o Papa? Com os
bispos? Com as freiras que vendem prédios, imagens, objetos sagrados para
saírem por aí a multiplicar conferências sobre o sexo? O que aconteceu com a
Igreja? “Has the church gone mad?”.
Uma ponta
do mistério está no Livro Santo: “Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou para
joeirar-te como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça: e
tu, uma vez convertido, vai e conforta teus irmãos” (Luc. XXII, 31, 32). Nesta
hora sexta do século, Deus permitiu que Satanás passasse pelo crivo os
discípulos de Jesus. Se quisermos lograr algum entendimento de tão sombrio
mistério, será preciso voltar anos atrás a fim de ver e auscultar o que andaram
fazendo os homens que descendiam de uma civilização cristã, e orgulhosamente
anunciavam o surgimento de um “novo humanismo”. Nas páginas subseqüentes trago
minha minúscula colaboração, arrancada das lágrimas e do estudo, e tornada
possível com a graça de Deus e com uma sobrevivência que já me causa certo
espanto, e que quero aproveitar para o serviço da mesma Igreja de Deus, tão
bela, tão luminosa, mas momentaneamente toldada eclipsada pelo enxame dos que a
abandonam mas ainda se detêm em torno de suas torres, diante de sua porta, para
o triste mister de um escândalo rendoso, e de uma última bofetada na Mãe e
Mestra que renegam. Ousemos desejar que esses maus filhos se afastem mais
lealmente e vão comer bolotas com os porcos, porque essa será talvez a última
oportunidade que terão de sentirem um dia saudades da Casa do Pai. E como
filhos pequeninos que temem e tremem nesta hora crepuscular, nesta hora do
lobo, coloquemos estas páginas sofridas e choradas aos pés de Nossa Senhora,
Consoladora dos Aflitos.
E agora
que já esbocei um resumo de nossos itinerários e de nossos extravios, deixemos
o Brasil, aonde apenas chegaram os efeitos de causas remotas e alheias.
Proponho ao leitor, nas páginas deste livro, que ainda não começou, a procura,
a indagação, não digo das causas de tão assombrosos acontecimentos, por me
parecer que o termo é austero demais e que a aventura está acima de minhas
forças, mas a procura e indagação de sinais, das pegadas, dos sulcos que vêm
deixando na história a passagem de uma caravana destruidora. Contentemo-nos com
os marcos mais próximos e recentes e procuremos de onde vieram eles, o que
disseram, por onde passaram...
E não se
queixa algum leitor de que estejam na Europa e principalmente na França, na
Inglaterra e na Espanha os personagens da Comédia de Erros, nem espalhe por aí
que me desinteressei da própria história pátria. Na tragédia ou comédia de que
depende a sorte da Civilização por alguns milênios já escrevi, e continuo a
escrever, milhares de páginas sobre o que vem acontecendo no Brasil. Reunidas
em volume dariam dez livros maiores do que este que hoje ofereço.
E agora
partamos. Examinemos o chão do século e procuremos de onde vieram eles, os
principais, por onde passaram e o que pelo caminho deixaram. E retiremo-nos
para esperar novos avanços da sinistra caravana que dá à desesperança e ao nada
do século nomes de otimismo e de progresso.
(Página 34 até página 47 do
livro – Editora Globo)


.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*)